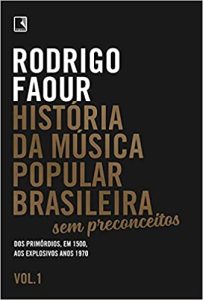Ao tomar para si a missão de reconstituir toda a história da música popular brasileira, o jornalista e pesquisador musical carioca Rodrigo Faour meteu-se, inevitavelmente, num grande labirinto, que ele começa a trazer a público com o primeiro volume de História da Música Popular Brasileira sem Preconceitos, sob o subtítulo Dos Primórdios, em 1500, aos Explosivos Anos 1970, em nada menos que 574 páginas. Esmiuçar tudo que aconteceu no Brasil em termos musicais desde 1500 não deve ser muito diferente de montar um quebra-cabeças de número (quase) infinito de peças, e Faour cumpre a tarefa com desenvoltura, revelando habilidade ao selecionar, organizar e catalogar grupos estéticos, movimentos comportamentais, estilos musicais e assim por diante.
A catalogação guarda (desde sempre) um laivo de arbitrariedade, já que em geral está tudo acontecendo ao mesmo tempo agora enquanto incontáveis compositores, arranjadores, instrumentistas e intérpretes cruzam histórias de vida muitas vezes instáveis e descontínuas. Faour deve ter se divertido (e/ou enlouquecido) nessa organização, e transfere um tipo parecido de prazer (e/ou angústia) para cada leitor que se dispuser a remontar a história com H grande na própria cabeça, concordar com/discordar de opções do historiador, acompanhar o tecido intrincado de raciocínios e elaborar os seus próprios, a partir de um manancial assombroso de músicos, músicas e discos. Para o escritor, é inevitável fazer zigue-zagues históricos, voltar e avançar no tempo; para o leitor, decifrar quem nasceu antes de quem ou quem foi contemporâneo de quem é uma diversão a mais.

Já na tortuosa seara dos preconceitos, Faour cria um problema ao cravar o início da história em 1500, quando os portugueses europeus transformaram em Brasil este pedaço do chamado Novo Mundo (mas novo para quem?). Evidentemente a riquíssima cultura musical dos povos nativos pré-cabralinos, tachados pejorativamente pelos europeus como “índios”, é extirpada do recorte, até mesmo por falta de documentação histórica (já que o apagamento dos vestígios e o desejo de extermínio moveram os brancos portugueses na invenção do tal Brasil). Tudo começou com destruição e reconstrução simultâneas, num processo agravado por outro costume genocida das matrizes europeias, de escravizar outros seres humanos que tivessem a cor de pele dramaticamente diferente de sua própria brancura.
O jornalismo cultural de Farofafá precisa do seu apoio! Colabore!
QUERO APOIARFaour opta, então, por começar pelo “descobrimento”, e também é árdua a documentação do período que começa em 1500 e se estende ao século 19. Não à toa, esses quatro séculos iniciais ocupam apenas 44 páginas do livro, que esquenta para valer a partir da invenção do fonógrafo, patenteada em 1877 por Thomas Edison, também inventor da lâmpada elétrica. O autor conta que as primeiras vozes gravadas no Brasil foram de Dom Pedro II e família, em 1889, poucos dias antes da queda do império luso-brasileiro – no Brasil, eletricidade, vozes gravadas e república nasceram juntas. Outro europeu, Fred Figner, nascido na atual República Tcheca, funda a Casa Edison (nomeada em tributo ao pai da invenção) em 1900 e começa a lançar discos em 1902, momento em que os apagadores de história passam a conhecer a dificuldade adicional de cancelar registros musicais espalhados em escala crescentemente industrial.
Faour dá atenção particular às datas e circunstâncias da instalação de gravadoras multinacionais e locais, proporcionando a seu leitor a reflexão sobre a quem pertencerão os fonogramas registrados a partir de 1902 pelos indígenas, ou melhor, pelos luso-afro-indígenas brasileiros. As principais gravadoras ancoradas no Brasil nessa primeira fase são as alemãs Odeon e Parlophon (representadas pela Casa Edison) e as estadunidenses Victor, Columbia e Brunswick, num padrão de dominação estrangeira que vai se eternizar até os dias correntes em que “indígenas” de todo o mundo trabalham quase de graça para enriquecer corporações trilionárias como Google, Apple, Amazon, Spotify, Deezer etc.
O livro é repleto de fragmentos saborosos, com historietas minúsculas que ajudam a dar sentido épico ao todo. Conta, por exemplo, que o disco de número 10.001, ainda em 1902, coube a dois artistas baianos, o compositor Xisto Bahia e o intérprete Bahiano, com o lundu “Isto É Bom!” – a primazia, aparentemente, foi de matriz africana, em detrimento da Europa ou da América. O autor crava em 38 mil títulos o rol de disquinhos brasileiros de 78 rotações por minuto que dominaram os primeiros 50 anos de música gravada e foram lançados entre 1902 e 1964, quando o formato foi extinto.

O cantor carioca Francisco Alves é o primeiro a lançar no Brasil uma gravação eletromagnética, captada com microfone, em 1927. Até esse momento, diz História da MPB sem Preconceitos, a prensagem média era de 250 exemplares de cada título, mas já em 1928 o carioca Mário Reis eleva a 30 mil com o disquinho contendo os sambas “Jura” e “Gosto Que Me Enrosco”, ambos do afro-carioca Sinhô, nascido em 1888, mesmo ano em que o Brasil aboliu, pelo menos em fachada, a escravização de pessoas africanas e afro-brasileiras.
As pecinhas do quebra-cabeças de Faour vão sendo dadas e magicamente formam imagens na mente de quem lê. Os discos de 78 rpm eram acondicionados em envelopes neutros com um buraco no meio para expor seus rótulos e nenhuma foto dos intérpretes. Os artistas ainda não têm rosto público, o que vai mudando aos poucos com a chegada feérica de outras invenções, como o cinema falado (“o grande culpado da transformação”) e seus filmes musicais ou o rádio e seus concorridos programas de auditório.
Algumas duplas formadas de compositores refletem nelas mesmas os confrontos de classe social, como no caso, no Rio de Janeiro, do branco Noel Rosa, de Vila Isabel, e do preto Ismael Silva, do Estácio. O meio fonográfico até o advento da gravação elétrica é amplamente controlado por homens, mas há exceções como a cantora carioca Aracy de Almeida, modeladora do samba que precisa fazer frente, sozinha, a uma legião masculiníssima de “bambas” do Estácio. O, digamos, hábito social de tachar como “malandros”, “marginais” ou “bandidos” os primeiros descendentes brasileiros dos africanos forros faz Faour embarcar na conversa fiada (branca) sobre a “vagabundagem” dos primeiros sambistas que se concentravam no bairro do Estácio.

Mas a história pulsa feito coração, e o autor comunica com satisfação que o preto carioca Pixinguinha foi o primeiro músico brasileiro a ser contratado como diretor musical de uma gravadora, a Victor, em 1929. Filha da elite carioca, a ilustre desconhecida Laura Suarez é apresentada como compositora pioneira (décadas depois do surgimento da conterrânea Chiquinha Gonzaga, ainda no século 19), numa carreira de gravações que misteriosamente se limita aos anos de 1930 e 1931. Saindo do litoral sambista em expedição pelo Brasil de dentro, Faour desbrava bravamente os preconceitos contra a música brasileira concebida e praticada nos imensos interiores do país, acompanhando o alvorecer dito “caipira” de Cornélio Pires, Raul Torres, Tonico e Tinoco, Cascatinha e Inhana, Nhô Pai etc., todos paulistas, mas não paulistanos. Se ao samba praieiro é conferido o status de identidade nacional, aos de dentro sobra o adjetivo, também pejorativo, de “caipiras” – ou “caboclos”, quando mestiços de nativos com portugueses.
Em 1940, a estatização da Rádio Nacional (inaugurada quatro anos antes) por Getúlio Vargas propicia o desenvolvimento da chamada “era de ouro” da música nacional – mesmo flertando com o fascismo, Getúlio fomenta uma galeria impressionante de artistas, em comportamento oposto ao de outros fascistas que têm se criado por aí. Derrotado o getulismo e sobrepujada a era do rádio, a TV Globo aparecerá na esteira do golpe de Estado de 1964, tornando a privatizar (se podemos falar isso a respeito de uma concessão pública), com capital norte-americano, o mais novo circo eletrônico, embora conservasse o espírito de integração entre as cinco regiões inaugurado pela Rádio Nacional.
Um dos principais beneficiados pela nacionalização das transmissões promovida pela emissora é o pernambucano Luiz Gonzaga, que inventa para o Brasil o baião, o xote, o xaxado, o forró. O Nordeste, tido perpetuamente como região “atrasada” pelos preconceitos sudestinos, passa a figurar num mapa cultural antes dominado de fio a pavio pelo Rio de Janeiro. Não parece muito diferente de tempos em que os “ricos” dão chilique por ter que compartilhar assentos de avião com os “pobres”. Indo além, Gonzagão forja para figurino pessoal um conjunto de trajes de trabalhador rural nordestino (ou cangaceiro, a gosto dos preconceitos de cada um), sob inspiração, quem poderia dizer?, do gaúcho de bombacha e acordeom Pedro Raymundo, personagem forjado no extremo sul do país.
Como se fossem instrumentos de seca, os econômicos sanfona, triângulo e zabumba constituem o peculiar arranjo em trio dos sertanejos pernambucanos; o autor demarca, com perspicácia, que muitas duplas “caipiras” dos interiores de São Paulo e Minas Gerais eram na verdade trios, que ocultavam seus sanfoneiros na hora de definir os nomes artísticos. O livro lembra uma variedade de artistas populares à época que se renderam à moda do baião, como a carioca Emilinha Borba, a paulista Marlene, a fluminense Carmen Costa, os mineiros Ivon Curi e Hervé Cordovil, a jovem carioca Claudette Soares… O violão bossa-novista estava a caminho para fazer caducar a vitalidade da sanfona, consequentemente poupando o Brasil do, digamos, excesso de “cangaceiros”, “caipiras” e “bugres” (outra designação jocosa para os indígenas miscigenados) do interior. História da MPB sem Preconceitos sublinha, pelo caminho, que a preta Carmen Costa fora empregada doméstica do branco Francisco Alves, antes de fazer sucesso com o samba-canção “Eu Sou a Outra” (1954). Parece mais fácil demolir o Brasil do que superar a fórmula escravagista de casa grande & senzala.
Mesmo se embrenhando pelo interior, Faour pisca os olhos num certo centralismo carioca e deixa de perceber iniciativas “regionais” como o selo (estritamente nacional) do publicitário Marcus Pereira, que investiga as cinco regiões do país nos anos 1970 e revela (ou tenta revelar) talentos preciosos e modernos como os gaúchos Os Tapes, os sul-matogrossenses do Grupo Acaba, o maranhense Papete ou a alagoana-pernambucana Banda de Pífanos de Caruaru, por exemplo. Sabemos que não cabe o mundo todo num só livro e que o esforço do pesquisador é brutal, mas sabemos também que é pelas beiradas mais frágeis que começam a cair aqueles que acabam não cabendo nas enciclopédias.
Com sobrepeso, carreira internacional e cantando com estardalhaço em vários idiomas, a paulista Leny Eversong é exemplar alvo de cancelamento sempre, denunciado não é de hoje por Faour – curiosamente, o Brasil rejeitava aqueles seus conterrâneos que, digamos, tentassem se passar por europeus ou americanos do norte, a começar pela portuguesa-carioca-estadunidense Carmen Miranda. Se Carmen brilhou em papéis hollywoodianos caricaturados em personagens subalternas latinizadas (ou seja, de algum modo brasileiras), Leny gravou nos Estados Unidos um LP com a orquestra de Neal Hefti, compositor e arranjador de nomes luminosos como Charlie Parker, Count Basie, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald e Oscar Peterson. No Brasil, ninguém sabe, ninguém ouviu. Se pensarmos bem, nos Estados Unidos também não.

A mestiça Dolores Duran, já biografada por Faour, aparece como contraparte feminina da genialidade do Noel Rosa compositor – se ele morreu com 26 anos, ela sai da vida aos 29, em 1959, tendo gravado em voz própria apenas sete das 35 músicas que compôs. Segundo o autor, o clássico “Estrada do Sol” (1958), da carioca Dolores em parceria com um ascendente e resplandecente Tom Jobim, seu conterrâneo, retrata o caminho cotidiano da cantora, ao amanhecer, indo do trabalho no mitológico Beco das Garrafas para casa, no Posto 6. Adentrando outros terrenos minados, o escritor mostra que em 1959, quase uma década antes da famigerada passeata contra a guitarra elétrica protagonizada pela gaúcha Elis Regina, o paulista Poly já conspurcara a “pureza” da música sertaneja com uma guitarra elétrica (e havaiana!), numa regravação da “Moda da Mula Preta” (1945).
Pesquisador fascinado especialmente pela música brasileira pré-bossa nova, Faour deixa a paulista Inezita Barroso e chega ao baiano João Gilberto, para adentrar com paixão na revolução que a bossa provocou e que reverberou na década de 1960 inteira nas canções de protesto, na nascente “MPB” (que ele escreve sempre assim, entre aspas), na tropicália, na peculiar mistura de samba-jazz com iê-iê-iê desenvolvida pelos cariocas Jorge Ben e Wilson Simonal etc. A impressionante assimilação da bossa pelo jazz estadunidense (e a seguir pela música mundial) passa por Stan Getz, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Henry Mancini e muitos outros. Enquanto isso, o sambalanço ou samba-jazz floresce a partir da zona norte carioca, movido por artistas que a zona sul bossa-novista não absorve. Em Ben, transforma-se em samba-rock (designação paulista) ou samba-soul (apelido carioca); Em Simonal, vira a florida, mas proscrita pilantragem.
Também a partir dos subúrbios cariocas, a jovem guarda inventa a música jovem brasileira, roqueira, desmiolada e “alienada”. Nos conflitos de classe, Faour parece pender mais para o lado dos patrões, quando afirma, por exemplo, que o roqueiro pioneiro carioca Sérgio Murilo teve a carreira interrompida porque “arrumou uma encrenca” com a gravadora Columbia (ou seja, decidiu processá-la). Logo a seguir, a multinacional o substituiria por um capixaba romântico chamado Roberto Carlos, que daria mais uma cambalhota histórica na agora chamada MPB. Diplomático, Faour evita adentrar em detalhes espinhosos sobre a relação íntima entre ditadura civil-militar, Rede Globo e Roberto Carlos (ou Wilson Simonal). “A juventude do mundo inteiro estava estarrecida com as mortes dos soldados americanos na Guerra do Vietnã”, escreve Faour sobre o rock “Era um Garoto Que Como Eu Amava os Beatles e os Rolling Stones” (1968), d’Os Incríveis, aparentemente esquecido de que vietnamitas também morriam às pencas nessa mesma guerra.
Se na matriz estadunidense as big bands de jazz evoluem (ou involuem) para formações e gêneros mais econômicos e intimistas, aqui, juntos, as guitarras e órgãos da jovem guarda e os violões da bossa e da MPB decretam a obsolescência das orquestras da “era de ouro”, trocadas pelas guitarras-baixos-baterias do rock’n’roll e por outros formatos baratos e massificados. Ironicamente, a bossa nova apela a diversas variações dos mesmos trios utilizados no passado por forrozeiros e “caipiras”.
Em meados dos anos 1960, impõe-se a era dos festivais televisionados da canção, inicialmente dominados pela Rede Record. Em 1967, a canção de protesto vence com “Ponteio” (de Edu Lobo) e leva o terceiro lugar com “Roda Viva” (Chico Buarque). O levante tropicalista fica com a segunda (“Domingo no Parque”, de Gilberto Gil) e a terceira (“Alegria, Alegria”, de Caetano Veloso) colocações. O júri, habitualmente atrasado em acompanhar as tendências, tenta inverter a equação em 1968, dando à tropicália vitória (“São São Paulo”, de Tom Zé), terceiro lugar (“Divino, Maravilhoso”, de Caetano e Gil, com Gal Costa) e quarto lugar (“2001”, dos Mutantes e Tom Zé), e à MPB mais sisuda apenas o segundo lugar (“Memórias de Marta Saré”, Edu Lobo).
Anos 1970 adentro, Faour adentra numa riqueza polifônica que abriga o clube da esquina do carioca-mineiro Milton Nascimento, a nova geração do samba, o forró nordestino de duplo sentido e o rock de Erasmo Carlos, Rita Lee e Raul Seixas. Nesse contexto, esmiuça subgêneros como o samba joia e o “chacundun”, variantes da música apelidada (mais uma vez pejorativamente) de “cafona”, de goianos (Odair José, Lindomar Castilho), baianos (Waldick Soriano) e mineiros (Claudia Barroso, Agnaldo Timóteo) quase sempre egressos dos interiores profundos e das classes mais maltratadas pela desigualdade brasileira. Mesmo assim, deixa entrever aqui e ali alguma má-vontade preconcebida com artistas como os cearenses Belchior (que descreve como dono de “voz fanhosa”) e Fagner (de voz “áspera” e portador de um “pitoresco cacoete”).
No percurso de História da MPB sem Preconceitos, certos clichês não são evitados, em descrições sobre como o país vivia um “clima de euforia” (um coringa sacado para diversas ocasiões), os joelhos capixabas de Nara Leão ou o constante “elogio” de que determinado fulano conseguia ir “além do panfleto” ao se exercitar pelo campo minado das músicas de protesto – como se fosse preciso um carimbo de permissão dos conservadores para que seus antípodas pudessem somar livremente música, cultura, arte e consciência política.
O combate aos preconceitos e a permanência das convenções se alternam como nas pulsações de um coração. Sístole: o libelo pró-nordestino da baiana Maria Bethânia em “Carcará” (1965) é descrito como “agressivo”. Diástole: os figurinos libertários dos tropicalistas arrombam o bom comportamento vigente nos festivais da canção, onde antes só se podia subir ao palco usando smokings ou vestidos sóbrios.
Sístole: o movimento dos Panteras Negras, influenciador da black music de Toni Tornado, é classificado como “violento”. Diástole: em 1972, Chico e Caetano cantam “Bárbara” em eu-lírico 100% feminino, o que segundo o autor inaugura a exposição aberta da homossexualidade feminina na MPB.

O coração se contrai: reconstitui-se o assédio da censura militar sobre o disco Verão 74, do uruguaio/indígena radicado brasileiro Taiguara, abortando o projeto ao vetar 11 das 12 canções do LP. O coração se dilata: em 1973, surgem os Secos & Molhados do (sul)matogrossense Ney Matogrosso, “quebrando pela primeira vez de modo contundente as fronteiras do masculino e feminino em nossa música”.
Por fim, um espetáculo à parte nesta História da MPB sem Preconceitos é o caderno de imagens com 64 páginas, que, além da raridade de grande parte das fotografias, adota a original estratégia de selecionar muitas imagens de encontros entre artistas por vezes díspares, certamente com o propósito de abarcar o maior número possível de personalidades e gêneros musicais numa quantidade limitada de páginas.

São espantosas e emocionantes as fotos que reúnem, por exemplo, os parceiros Francisco Alves e Mario Reis ou Ary Barroso e Dorival Caymmi, o trio de cantoras Ademilde Fonseca–Linda Batista–Isaura Garcia, as não-parceiras Marlene e Emilinha, os namorados ocasionais Dolores Duran e João Donato, o heterogêneos trios Antonio Maria-Aracy de Almeida-Dorival Caymmi e Stevie Wonder–Sergio Mendes-Tom Jobim, uma inusitada pose de Maysa com João Gilberto, um encontro improvável entre Djavan e Wando e outro de Alcione–Clara Nunes–Vanusa, o convescote samba-MPB João Bosco–Paulinho da Viola–Sueli Costa–Jards Macalé etc.
Nas batidas do coração, o volume 1 desta nova história da MPB apresenta-se como um trabalho realizado com fôlego e paixão, que provoca desde logo o desejo de ler o que virá a seguir, de 1978 até os dias atuais. Na democratização das tecnologias de produção e gravação provocada pelo desenvolvimento da internet, cresceu exponencialmente a diversidade e a multiplicidade de novos artistas, o que triplica o desafio à frente de Rodrigo Faour para o próximo volume. A inclusão do alerta Sem Preconceitos no título é, afinal, a grande novidade do projeto em relação a realizações semelhantes anteriores. Percalços à parte, o trabalho já cumprido cria expectativas para a narrativa da explosão de produtividade e criatividade que testemunhamos nas décadas recentes, em especial neste presente em que (quase) todo mundo é artista.
História da Música Popular Brasileira sem Preconceitos – Dos Primórdios, em 1500, aos Explosivos Anos 1970 – Vol. 1. De Rodrigo Faour. Record, 574 pág. R$ 85.