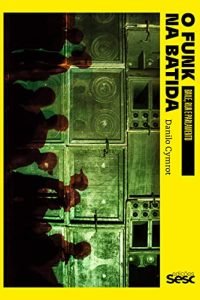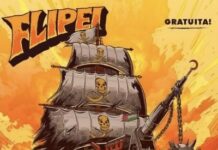Em 18 de outubro de 1992, um encontro de funkeiros na praia do Arpoador, na zona sul do Rio de Janeiro, tornou-se marco zero de uma série de eventos à qual a sociedade brasileira daria a designação de “arrastões”. Em dezembro de 2013 e janeiro de 2014, MCs de funk e influenciadores periféricos das redes sociais marcaram encontros em shopping centers (inicialmente no Shopping Metrô Itaquera e no Shopping Metrô Tatuapé, ambos na zona leste paulistana), episódios que logo percorreriam o Brasil sob a alcunha de “rolezinhos”. Danilo Cymrot toma esses dois fenômenos separados no tempo e no espaço como pontos de partida do livro O Funk na Batida – Baile, Rua e Parlamento, um tratado em profundidade sobre a problemática e o fundo francamente racista da trajetória de criminalização a que a sociedade brasileira tem historicamente submetido o gênero musical conhecido como funk.
Em outros tempos, contextos e espaços, essa mesma sociedade, herdeira de 350 anos de escravização oficializada de africanos e afrobrasileiros e arquiteta de sua continuidade informal, concedeu tratamento equivalente a rodas de samba, rodas de capoeira, batalhas de rappers e quantas manifestações de arte, cultura, entretenimento, lazer, esporte etc. brotassem do Brasil afrodescendente, afro-indígena, marginalizado, periférico, não-europeizado. “Sambandido“, lembra Cymrot, é a designação que se dava à música popular de trabalhadores do morro vocalizados nos anos 1980 e 1990 pelo sambista paraibano acariocado Bezerra da Silva.

Cymrot segue alinhavando pontas soltas de uma história contínua e monocórdica: “Na segunda década do século XX, jogadores negros não podiam esbarrar em jogadores brancos, sob pena de os outros jogadores e até policiais agredirem fisicamente o infrator, enquanto os brancos eram, no máximo, expulsos de campo. Essa redução dos espaços, subproduto de sua situação social, obrigou os negros a jogarem com mais ginga, enviando o contato físico e inventando o drible, um futebol que ‘lembra passos de dança e fintas de capoeira'”.
O jornalismo cultural de Farofafá precisa do seu apoio! Colabore!
QUERO APOIARDe volta aos arrastões e rolezinhos, O Funk na Batida não deixa de perceber os momentos históricos que gestaram tais eventos, correspondentes, respectivamente, à popularização nacional do funk carioca hoje tido como “raiz”, em 1992, e à emergência do funk-ostentação paulista em 2013. (Esse, segundo explica Cymrot, seria uma adaptação evolutiva do funk à repressão ininterrupta aos funks “proibidões”, de suposta apologia aos comandos criminosos. Especialmente estigmatizado, o funk-ostentação tem correlatos noutros subgêneros, como o gangsta rap ou a ostentação alcoólica de sertanejos e forrozeiros como Munhoz & Mariano, Israel Novaes, Wesley Safadão e assim por diante.)
“Apenas entre os dias 30 de setembro e 18 de outubro de 1992, houve o massacre do Carandiru, o ‘arrastão’ do Arpoador e a autorização para o processo de impeachment de Fernando Collor“, assinala o autor, levando o leitor a se perguntar se os atores do arrastão, estigmatizados pelas vezes da mídia como assaltantes dos veranistas da zona sul, não seriam os primos pobres e pretos dos cara-pintadas branquíssimos instrumentalizados pelo status quo para derrubar o presidente mauricinho nordestino. “Enquanto os cara-pintadas foram tratados como motivo de orgulho, uma reedição do modelo de jovem idealista dos anos 1960, os participantes do arrastão foram taxados de juventude desesperançada, despolitizada, hedonista, transviada, rebelde sem causa, motivo de vergonha”, discrimina o autor.
Tampouco passa batido o fato de que os rolezinhos emergiram no caldo caótico dos protestos de 2013, primeiro ato da grande encenação coletiva que culminaria, em 2015, na derrubada da primeira e única mulher presidenta da história do Brasil, Dilma Rousseff. “(A antropóloga) Teresa Caldeira classifica os rolezinhos como protestos e relaciona alguns pontos em comum com as primeiras manifestações das Jornadas de Junho de 2013, lideradas pelo Movimento Passe Livre (MPL): ambos expressaram o desejo de circular com mais qualidade; usaram as mídias sociais para se organizar e ignoraram as formas instituídas de representação e organização política; foram protagonizados por jovens e tinham suas raízes no seu cotidiano; aumentaram sua amplitude e visibilidade no momento em que foram reprimidos pela polícia; contestavam autoridades constituídas e modos de regulação e separação preexistentes”, escreve Cymrot.
Caótico, o caldo de 2013-2016 era político também, como sublinha o autor: “O governo Dilma Rousseff (PT) defendeu os ‘rolezeiros’ e criticou a ação policial, bem como as liminares que proibiam rolezinhos, apontando seu teor preconceituoso e o risco de que as reações acirrassem os ânimos e as manifestações fossem apropriadas por vândalos e black blocs. Em compensação, em 2016, a equipe de som Furacão 2000 organizou, com a Frente Brasil Popular, um baile funk na orla de Copacabana contra o impeachment de Dilma Rousseff, um indício de que o funk também tem se politizado e feito alianças políticas.”
Curiosamente, a mobilidade – seja a do trânsito das grandes cidades, a dos aviões antes restritos às classes economicamente superiores ou a mobilidade social de modo geral – está na raiz de ambas as, digamos, performances, a dos arrastões e a dos rolezinhos. “Para (o geógrafo afrodescendente) Milton Santos, o arrastão pode ser entendido como uma luta pelo espaço, uma vez que os pobres são prisioneiros de seus bairros e a transversalidade depende do propósito segundo o qual uma pessoa se move de uma área para outra, sendo vedada, por exemplo, para fins de lazer e permitida para fins de trabalho, como é o caso das empregadas domésticas que trabalham na zona sul e moram ‘lá longe'”, aponta o texto.
O Funk na Batida amarra outros fios soltos da guerra de classes e raças à brasileira, como o “verão da lata” de 1987, quando um carregamento de maconha veio dar às praias da zona sul carioca (e virou tema saboroso de passe livre nas canetas de músicos brancos como Os Paralamas do Sucesso e Fernanda Abreu), ou, antes, o processo de redemocratização de um país que esperneava para se livrar de mais uma ditadura: “Se na década de 1980 a figura demonizada nas areias da zona sul era a das famílias de ‘farofeiros’, na década de 1990 passou a ser a do jovem ‘funkeiro’, filho bastardo do ‘farofeiro’ e do ‘pivete’, ou seja, uma figura igualmente incômoda, mas muito mais violenta. É interessante perceber como o ano de 1984 marca ao mesmo tempo a intolerância à invasão dos ‘farofeiros’ e o movimento das Diretas Já. (…) Não se trata de uma contradição, uma vez que é justamente a democratização do país que possibilita que setores antes excluídos reivindiquem seus direitos de cidadania e ocupem espaços antes interditados a eles na cidade”. Cabe como luva à contrarrevolução reacionária de 2013-2022, iniciada entre o MPL e a PEC das empregadas domésticas e ainda em curso até que resolvamos pará-la.
Repulsa estética, ódio de classe
Não se trata, definitivamente, da preocupação moral das classes médias e altas com a degradação social puxada pela “vulgaridade” das letras de funk sexual ou pela “apologia ao crime” nos funks “proibidões”. Nem tampouco essas classes estão minimamente interessadas na formação educacional ou cultural e na saúde mental ou física da população que desprezam e espezinham sem trégua. À direita ou à esquerda, os muros de contenção seguem sendo erguidos e mantidos para interditar qualquer possibilidade real de democratização de um país ainda escravizado, ainda colonial. Não parece plausível, por exemplo, a preocupação com o consumismo desenfreado das classes sociais emergentes da era lulodilmista, um vez que esse mesmo consumismo é regra geral praticada por toda a sociedade, em qualquer ponto do espectro ideológico. “Parte da criminalidade contemporânea é gerada (…) ‘de fora para dentro’ da favela e pode ser resumida em necessidade de poder, lazer e consumo. (…) Há um intercâmbio comercial dinâmico em que o ‘asfalto’ consome a cocaína da favela e esta, à sua maneira, a moda do ‘asfalto'”, espelha o autor.
O falso apelo moral, nesses casos, serve para perpetuar normas decadentes há séculos, mas persistentemente válidas em sua raiz classista, racista e escravista. “Enquanto (…) para os delitos produzidos pelos jovens de classe média o tom da mídia é invariavelmente de surpresa, buscando atribuir causas que expliquem tais condutas desviantes, os delitos praticados por jovens pobres são quase sempre interpretados como atos que confirmam uma regra. A violência produzida por jovens de classe média é lida como uma situação de exceção, caso isolado, muitas vezes motivados por problemas psíquicos, enquanto aquela promovida por jovens dos segmentos populares é considerada um problema social, indício de uma conduta padrão, coletiva.” Como lembra o autor, a realidade social cruenta é lida como documento neutro em produtos como o filme (contrarrevolucionário) Tropa de Elite, mas significa o crime propriamente dito se estiver impressa numa letra de funk.
Aqui, Cymrot vai ao âmago da mazela racista que tapamos com peneira furada sob o manto da suposta apreciação estética: “(A antropóloga) Adriana Facina critica que as possibilidades presentes em qualquer fazer artístico de assumir um personagem, encarnar uma persona, uma máscara fabular, criar e recriar, reinventar, ressignificar, reconstruir e mimetizar a realidade sejam negadas aos MCs de funk ‘proibidão’. Suas músicas são identificados como um realismo jornalístico bruto, como uma verdade absoluta, sem mediações. A narrativa se transforma em crime. Cantar ‘como se fosse’ bandido se torna ‘ser bandido’, e narrar histórias se torna confessar crimes”.
A arquitetura racista disfarça a estratégia de vigiar e punir por trás de subterfúgios vários, que vão da moral religiosa à associação com o tráfico de drogas, à cultura de estupro, à poluição sonora e à perturbação da paz noturna das famílias, mas sempre em espaços bem delimitados. “Não são recorrentes (…) projetos de lei e ações policiais para proibir missas evangélicas, shows de música gospel e outdoors com salmos bíblicos, sob a alegação de serem financiados pelo tráfico de drogas”, explicita Cymrot. “A conversão de traficantes ao neopentecostalismo é um indício de que criminalidade, ostentação e religião podem caminhar juntas.”
A vala comum racista mapeada por Cymrot empilha cadáveres (majoritariamente produzidos pela polícia) num arco que abrange autores de proibidões, mas também Kátia, co-autora do funk de orgulho “Rap da Felicidade” (“eu só quero é ser feliz/ andar tranquilamente na favela em que eu nasci”), Lula (da dupla com o futuro hit-maker Naldo Benny), o irmão e o filho da compositora feminista de “funk-putaria” Tati Quebra Barraco, o funkeiro-ostentação MC Daleste e dezenas de outros: Betinho, MC Suel, MC Brow, DJ Chorão, MC Felipe Boladão, DJ Felipe, MC Duda do Marapé, MC Primo, MC Careca, MC Vitinho, MC Frajola…
O Funk na Batida reúne farto material legislativo e abundantes exemplos concretos da vigilância preferencial ao funk (ou seja, aos pobres-pretos-pardos-periféricos), dos primórdios do funk então carioca nos anos 1980 ao cerco contemporâneo de proibições de aglomerações funkeiras e prisões e condenações de artistas do gênero, como Rennan da Penha, força motriz de fenômeno cultural simbolicamente denominado Baile da Gaiola. Numa rasante histórica, o livro enumera artistas que passaram ilesos ao tematizar o crime (Jorge Ben em “Charles, Anjo 45”, Chico Buarque em “Pivete” e “Meu Guri”, Bonde do Rolê em “Vida Loka”, “Maria Joana” e “Rainha dos Darks”) e outros que caíram nas malhas policiais-judiciárias, como os punks pernambucanos periféricos Devotos, os rappers MV Bill, Planet Hemp e Racionais MC’s e o pagodeiro Belo, entre outros.
“Mais do que aproximar os jovens do tráfico, o funk pode representar alternativa a ele, e o fechamento dos bailes, por sua vez, pode acarretar o aumento da criminalidade, pelo fato de muita gente perder seu ganha-pão”, constata o autor, enquanto enumera dezenas de projetos de lei quase sempre estapafúrdios (mas eventualmente razoáveis) que tramitam sem parar nas casas legislativas federal, estaduais e municipais, à direita, à esquerda e no centro. A batida de cabeças é generalizada, segundo expõe o autor, numa balbúrdia de leis de sentidos diversos sendo aprovadas simultaneamente e posições opostas emergindo de partidos de mesma orientação ideológica, às vezes dentro de um mesmo partido.
Como demonstra O Funk na Batida, episódios como os arrasastões e rolezinhos marcam época porque equivalem a momentos em que o rei racista fica nu em praça pública (embora geralmente não tenhamos discernimento para percebê-lo no momento em que a faísca tenta se alastrar). Já próximo ao desfecho, o texto de Danilo Cymrot traduz com transparência e desassombro o caldo caótico que avaliza todos os tipos de preconceito e golpes políticos aplicados no porrete toda vez que o rei racista começa a fazer seu striptease:
“A repressão aos bailes funk de rua se insere em um debate maior sobre a falta de opções de lazer nos bairros pobres e sobre o controle da presença e da circulação de jovens, negros, pobres e periféricos pelo espaço público, historicamente vistas como ameaçadoras quando realizadas mediante aglomerações e por motivos não relacionados ao trabalho. Se a briga lúdica entre galeras foi confundida em 1992 com um arrastão no Rio de Janeiro, porque havia uma cultura preconceituosa que amparava essa interpretação, e questionou tanto o reconhecimento das praias da zona sul carioca como espaço público quanto o mito da democracia racial, os rolezinhos em shoppings de São Paulo, em 2013, embora não fossem violentos como brigas e ocorressem em shoppings da periferia já frequentados individualmente pelos jovens, também foram confundidos com arrastões, escancarando o medo que a aglomeração de jovens negros, pobres e periféricos, associados à imagem de criminosos, causa em boa parte da população, imagem essa que é instrumentalizada por tais jovens para afirmar poder e reivindicar visibilidade”.
A boa notícia é que esse(a)s jovens continuarão a afirmar poder, reivindicar visibilidade e promover variáveis criativas de rolezinhos e rolezões, como evidencia a Parada (jornada) LGBTQIAP+ de 4 milhões de brasileiro(a)s majoritariamente não-branca(o)s que após inverno pandêmico voltaram à rua em São Paulo, no dia 19 de junho de 2022.
O Funk na Batida – Baile, Rua e Parlamento. De Danilo Cymrot. Edições Sesc, 384 pág., R$ 85.