Feitos todos os preâmbulos, finalmente consigo fazer minha primeira pergunta, e a entrevista de Daniela Mercury começa.

“Minha vida é feita de nãos”, afirma a cantora e compositora durante o show O Axé, a Voz e o Violão, sem dar maiores explicações. Pergunto o significado daquela frase. “Talvez eu só tenha conseguido fazer algo importante porque recebi tantos nãos”, ela sintetiza, após dar exemplos que se esparramarão, até o final, por toda a entrevista.
Implícita ou explicitamente, estamos falando sobre machismo. Ela sabe que o não, venha da boca do dono de barzinho, do chefe de trio elétrico, do colega emepebista, do músico da banda, do diretor de gravadora ou do crítico de música, traz uma carga de reação masculina à insurreição feminina que quer dizer “eu existo, eu existo e eu existo”. E então se dá o canto agressivo (masculino?) no alto do trio, para a um só tempo responder não aos nãos e se fazer ouvir pela massa de gente que brinca obediente ao comando de… uma mulher.
Na segunda parte da entrevista, Daniela ensaia listar com quantos nãos ela fez os sins que conseguiu construir.
Pedro Alexandre Sanches: Por que sua vida é feita de nãos?
Daniela Mercury: Porque sempre foi difícil fazer tudo que eu decidi fazer. Eu queria ser bailarina, meus pais achavam que não era uma profissão que fosse viável. E eu me tornei bailarina, decidi com 10 anos de idade e não houve jeito. Com 12 eu já tava fazendo teatro infantil, com 15 ou 16 já me sustentava, pagava pra poder fazer minhas aulas de balé. E realmente botei aquilo como o objetivo da minha vida, não sei nem por quê. Era a relação que eu tinha com a professora da escola que era professora de dança, de recreação, e me fez descobrir que era uma forma de eu me sentir bem me expressando. Eu precisava daquilo de alguma forma, aquilo me dava uma felicidade gigantesca, era como ar pra mim estar me expressando. Não era a questão de estar no palco para me expor no palco. Era pra me expressar. Eu nunca pensei em ser artista famosa, mas ok. Depois as coisas foram acontecendo. Eu cantava MPB. Também fui convidada pra cantar porque cantava nas serenatas. Então a princípio eu não tinha a intenção de me profissionalizar na área, e fui fazendo barzinhos, cantando. Tive filhos muito cedo, lavava, passava, cozinhava, fiz vestibular pra licenciatura em dança na Federal. A vida de uma bailarina é uma vida de nãos, é uma vida de muita dificuldade, uma vida em que nada é fácil, viabilizar-se como uma intérprete de dança… Eu fazia parte de quatro ou cinco grupos profissionais, mas era tudo muito difícil pra conseguir patrocínio, fazer espetáculos. E depois, com a minha carreira, eu ouvi não de todas as pessoas. Aliás, acho que nunca botei uma música na rádio que eu não ouvisse que ninguém gostava. A primeira gravadora não queria que eu fizesse grupo. Eu fui contratada pra solo e eu mesma rasguei meu primeiro contrato na cara do Wesley Rangel (dono da produtora WR, hegemônica na indústria axé, morto no início de 2016), que tá no documentário do axé. Ele me contratou pra fazer solo, eu não sabia muito bem o que ia fazer de repertório, não tinha tido condição de fazer um laboratório a não ser o de barzinho. Não me achei capaz de construir um trabalho de arranjo, de banda, porque já cantava com banda, mas não sabia muito por onde caminhar, caminhos que precisavam de pesquisa, então rasguei o contrato. A partir daí, ninguém mais queria o que eu propunha.
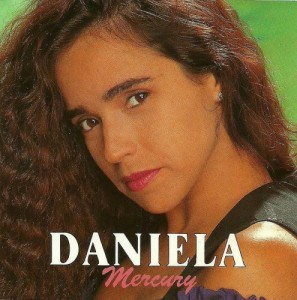
Consegui com muito esforço que a Eldorado (gravadora do jornal O Estado de São Paulo) aceitasse o trabalho com o Companhia Clic, que era um trabalho de laboratório, de pesquisa, tentando chegar a outro lugar. Eles fizeram, aí a rádio não tocava de jeito nenhum “Swing da Cor” (faixa de abertura do primeiro álbum solo de Daniela, de 1991), porque era muita percussão. E dentro, internamente, as pessoas que tavam próximas de mim, diziam: “Isso não vai funcionar, isso não vai dar certo, isso não toca”, isso não é isso, isso não é aquilo. Tudo que eu fiz, eu disse até a Malu, pode dizer qualquer coisa agora, se alguém me disser que tá tudo bem eu vou achar estranho. O Canto da Cidade, a gravadora não gostou do disco, não queria tocar a música, achava que o Olodum já era. Eu que convenci eles que Olodum era uma das melhores coisas que tinham surgido na música popular brasileira, uma nova forma de fazer samba, uma nova instrumentação, e que aquilo era a coisa mais interessante que havia surgido dentro de uma terra em que o samba é tão importante. E que aquilo, sim, era pra mim algo valioso que precisava ser mantido como uma base rítmica que podia dar base para algum novo gênero. Também não se pensava em fazer um novo gênero, mas eu pensava em ter um grau de autenticidade, porque sempre achei que não existe fazer arte sem um grau de autenticidade. Você tem que encontrar, seja na poesia – o ideal é que você encontre em todas as partes do trabalho -, seja na timbragem, instrumentação, arranjos. Escolher uma instrumentação improvável, trabalhar com instrumentos diferentes, com sonoridades diferentes, harmonizações também, não trabalhar com tonal o tempo inteiro, pra cada música ver o que é possível fazer. Cada música dá possibilidades, a estrutura, a canção não ser óbvia, a forma dela não ser exatamente o que se pensa nela. Então, por exemplo, o “Nobre Vagabundo” (hit do álbum Feijão com Arroz, de 1996), eu mostrava as músicas. Eu consegui assinar meus contratos, sempre tive autonomia de decidir todo meu repertório, e sempre decidi, infelizmente não deixei pra ninguém fazer isso. Meus diretores artísticos ficavam morrendo de angústia com isso, sofriam muito. E eu ainda era mulher, então ouvi, por exemplo, Jorge Davidson (diretor artístico de gravadoras, importante no lançamento de bandas de rock dos anos 1980 como Biltz, Os Paralamas do Sucesso e Legião Urbana), um pouco mais adiante, quando fui pra BMG, primeiro me confessar que odiava axé. Eu tentava fazer música de rua, meu segundo álbum com a Sony, um álbum importantíssimo…
PAS: Quer dizer, o diretor da gravadora também odiava? Não eram só os críticos de música?
DM: Ele olhou pra mim e fez: “Eu sou baiano”. Era começo da minha carreira, eu tinha acabado de estourar com O Canto da Cidade. Meu disco é tão urbano, cheio de interferências de rock, de reggae, de tanta coisa. Tava acabando de se batizar o gênero com esse nome. Ele não tava falando de outras pessoas, ele tava falando de mim especificamente. O que eu me assemelhava ali, a princípio, eram Olodum e Banda Mel e mais nada. Meu axé era um axé que não era o axé que todo mundo fazia, porque não havia todo mundo.
PAS: O seu era um pouco antes?
DM: Não havia todo mundo, quem havia fazendo alguma coisa que pudesse ser chamado de axé, Pedro? Luiz Caldas, Sarajane, que fizeram ti-ti-ti. “Fricote” (1985), que era uma coisa muito particular do Luiz Caldas e do deboche. A lambada, que tinha surgido ali, Netinho, que fazia um pouco de lambada com a Banda Beijo…
PAS: Margareth Menezes…
DM: Não, porque Margareth cantou uma coisa que era do Olodum. Não foi Margareth que criou aquilo, Margareth virou uma intérprete de “Faraó” (“Faraó Divindade do Egito”, lançada por Djalma Oliveira em 1987), de “Elegibô” (“Uma História de Ifá – Egigbô”, do primeiro LP de Margareth, de 1988), então aquilo ainda estava associado ao Olodum. Não é que ela não seja uma das intérpretes, mas tinha Margareth e a Banda Mel, não tinha uma cena ainda definida. Mesmo a banda Reflexu’s tendo feito um sucesso pontual (a partir de “Madagascar Olodum”, em 1987), isso não impactava tanto pra nós, não havia o desejo de fazer algo como a banda Reflexu’s porque aquilo era um caminho. Aquilo não tava anunciado como um caminho. Depois que a gente olha daqui pra lá parece que sim, mas não tava.
PAS: Você me derruba da cadeira ao dizer que o diretor da gravadora também não gostava de axé.
DM: É. Não gostava, não. Ele, mais do que isso, virou pra mim e disse: “Eu odeio música baiana, não gosto do tipo de música que você faz”. Então eu disse: o que é que você tá fazendo aqui falando comigo? Eu sou uma parceira, uma sócia da companhia, uma artista convidada pra vir fazer discos com vocês.
PAS: Você respondia isso mesmo? Retrucava os nãos?
DM: É, respondi pra ele, não tô entendendo por que esse texto agora. Você que deve aprender a gostar. É tão novo que você não sabe nem o que é isso, isso não existe, não está construído, definido, não tem algo pra você dizer não. Era o que eu dizia aqui em São Paulo, alguns jornalistas um pouco mais cultos, mais preparados, entendiam. Eu dizia: como você pode ter preconceito? Você já veio falar depois, tô falando do Canto da Cidade. Como você pode ter preconceito contra uma coisa que não existia, que não existe? Não existia nem pra nós baianos. Você pode até não gostar daquilo, daquele trabalho especificamente. E também era muito normal pra mim que estranhassem, porque tudo que era estranho era bom, novo, e eu via valor nisso. Então eu não me incomodava com o fato das pessoas não gostarem, achava até interessante.
PAS: Verdade?
DM: Sim.
PAS: Conseguia não se incomodar? Ninguém gosta de ouvir não, a não ser quem já esteja muito acostumado.
DM: Pedro, eu fui educada pela arte. Pequenininha, com 7, 8 anos, eu cantava e dançava “É Proibido Proibir”, “Divino, Maravilhoso” (hinos tropicalistas lançados em 1968, respectivamente, por Caetano Veloso e Gal Costa). A gente discutia as questões todas, eu sabia que a negação fazia parte da arte, aliás era uma das coisas mais instigantes e importantes do meu trabalho. Talvez eu só tenha conseguido fazer algo importante porque recebi tantos nãos. Ou fiz coisas mais importantes porque percebi o que eu queria diante dos nãos. E sabia que os nãos faziam parte do estranhamento da pessoa para comigo. Quer ver um discurso que era muito nítido? Malu diz assim: “Daniela, você parece que tinha uma noção tão clara”. Eu não sei também por que eu tinha essa visão tão clara. Mas, quando eu chegava na rádio com “Swing da Cor”, os jornalistas da rádio daqui até muito simpáticos diziam: “Como você quer que eu toque essa música? Ela tem uma batucada gigantesca. Não tem nada que toque na minha programação que tenha algo próximo”. Eu dizia: que ótimo, é sinal que tô fazendo alguma coisa diferente. Que legal você abrir espaço pra alguma coisa diferente. O que minha geração vai fazer?, eu dizia a ele, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais? Por que eu tenho que repetir alguma coisa que já foi feita? Por que tenho que entrar no lugar do conforto? Artista não é pra entrar no lugar do desconhecido? Não é pra ser provocador, anunciar novos tempos? Qual é a função de um artista na arte? Em dança eu não queria, eu negava – eu também disse os meus nãos.
PAS: Tô desconfiado que sim, que era um espelho.
DM: É. Eu fiz balé clássico e eles queriam que eu dançasse O Lago dos Cisnes, O Quebra-Nozes. Eu dizia: não tenho condição emocional de dançar isso. “Como assim, Daniela?, você faz aula o ano inteiro, dança muito bem nas pontas”. Mas eu não quero servir…, a minha aula não serve pra isso. Eu acho lindo, maravilhoso que as pessoas se identifiquem com isso, mas eu não consigo, não me preenche dançar. Pra mim é mais uma aula, tecnicamente, uma execução bonita. Mas eu quero é desconstruir isso.
PAS: Isso é um pouco como Tom Jobim dizer que você vai cantar MPB?
DM: É. Tom disse, e eu disse, Tom…
PAS: Você disse: “É o que eu faço, mas não é o que você tá pensando”…
DM: …E eu também não sei o que é, eu disse pra ele. E disse pra Chico Buarque, quase pedindo desculpas de não cantar o que eu conhecia dele – tudo, né?, porque conheço tudo deles dois. O compositor que mais cantei na minha vida foi Chico Buarque. Então eu tava falando com propriedade: Chico, é espetacular o que você faz, eu não sei se vou conseguir fazer nada que chegue aos pés do que você construiu, mas eu vou tentar por outros caminhos. Eu quero qualquer outro caminho que possa ser meu, que possa fazer sentido, enfim. O que é que você faz (quando interpreta a canção de alguém)? Ou você põe mais elementos, ou põe menos elementos, ou desconstrói a forma, ou muda o texto, ritmicamente vai por lugares que ninguém foi. Fui pra todos esses lugares, investiguei todos esses lugares. João Bosco depois dizia pra mim, a gente conversando sobre algum show, no Sou de Qualquer Lugar, em 2001. Falei: ai, João, tô aqui num dilema infernal, porque fiz muita coisa, os primeiros discos todos, e aí tem um monte de gente fazendo. É o auge do axé no Brasil, eu acho ótimo, tá tudo certo, somos nós, é a Bahia que exportou um monte de expressões da gente, mas me angustia um pouco ficar meio cam… (se interrompe: camuflada?), misturada com isso tudo, porque a minha grande graça é me renovar, e eu tô com a sensação de que tenho que fazer alguma coisa radical, mesmo dentro de um gênero que fui eu mesma que conceituei, diante da minha pesquisa, que é parte da base desse gênero. Aí ele fez: “Mas você é tão versátil, por isso que você tá ferrada. Você pode cantar tudo que você quiser, você passeia por tantos gêneros e ritmos, realmente tem que ficar confusa, porque você tem opções demais”. Aí eu resolvi usar tudo que eu tinha. Você só tem duas coisas na arte. Ou você desconstrói, vai pro minimalismo, ou você vai pro exagero, vai ser barroco. A bossa nova já tinha chegado no limite do esvaziamento, então depois tudo era pesquisa. E achava também que a parte poética precisava encontrar caminhos, só que quando comecei a carreira eu não tinha segurança como compositora.
PAS: A compositora ouvia nãos?
DM: A compositora… Ah, tem uma outra situação muito legal dos nãos. Um não já social: as mulheres não compõem. Você tem Chiquinha Gonzaga, Dolores Duran, algumas cantoras, Isolda, que fez algumas coisas pra Roberto Carlos, mas que são poucas e ficaram meio escondidas. Não se reconhece a mulher como compositora importante, transformadora. Existem as duas coisas, o cenário da música popular brasileira e o mercado da música popular brasileira, que se confundem toda hora. Às vezes você tá conversando com alguém que tá pensando pelo lado mercadológico, comercial, e tem outras pessoas discutindo questões estéticas, artísticas e conceituais. Eu tinha que conseguir viabilizar meu trabalho pra que se justificasse o investimento feito e pudesse com esse investimento fazer a minha pesquisa musical livre. Então tinha que sempre estar mentindo um pouco (ri), ou mentindo bastante (ri). E ninguém tava nem aí pra arranjo. Até hoje no Brasil ninguém se importa muito com arranjo. Isso é uma coisa louca, ninguém julga arranjo, ritmo, timbragem, coisas inevitáveis de falar. Como você vai falar de uma música, uma obra, um disco sem falar de arranjos, de harmonia, de timbre, dos ritmos que estão sendo usados, o grau de dificuldade, a inovação que aquilo traz? Isso já passa desapercebido. Então só tinha a canção pra brigar. Só tinha que convencer que a música era boa. E se era qualquer ritmo não fazia qualquer diferença, porque tudo era axé. Não fazia diferença se era reggae, samba-reggae, samba, rock. Tudo era axé, comigo tudo era axé, não importava o que eu fizesse era axé, de “Nobre Vagabundo” (1996) a “Só pra Te Mostrar” (1992, composta por Herbert Vianna). Eu brincava que se Jota Quest fosse baiano era axé, se o Skank tivesse saído da Bahia era axé, se o Cidade Negra tivesse saído da Bahia era axé. Tudo que se fazia de música rítmica dançante no Brasil com influências urbanas internacionais e nacionais era axé. Não tinha muita dificuldade de convencer as pessoas daquilo.
Mas o não como compositora foi muito sério, porque eu fui buscar alguns compositores que tinham particularidades. Guiguio era música do Ilê Aiyê. É, verdade, Caetano Veloso já tinha gravado algumas coisas do Ilê, mas ele não tinha feito a estrutura da vida dele em cima daquilo. Aquele discurso me tocava como cidadã da cidade, bailarina de afro desde pequena e vendo naquilo uma afirmação de um povo que precisava de ascensão social e de respeito e da luta contra o preconceito. Depois conto várias situações que mostravam claramente que as pessoas não conviviam nos mesmos lugares em Salvador. De acordo com o bairro onde nasciam, com a cor de sua pele, não podiam usufruir de todos os ambientes da cidade. Apesar de Gilberto Gil ter cantado que o preto não entrava no Clube Baiano de Tênis, até a minha geração os negros não entravam nos clubes sociais e ficavam nos salões principais. A minha geração ainda tinha muito a vencer. Eu via aquilo muito claramente. E via valor naquilo, e via que a música que tinha surgido do Olodum trazia esse discurso afirmativo feito de outra maneira, e aquilo ali era a coisa mais interessante que tinha em termos de linguagem, até as músicas de enciclopédia como “Faraó”, “Madagascar”. Era massa, porque, pô, o cara pega lá um pergaminho qualquer e sai cantando, era um rap da gente.
PAS: Psicodélico…
DM: Era um rap. Porque o cara pega um texto enorme e fala o que ele quer, aquela coisa meio falada. Ele, em vez de criar o próprio texto, compunha uma história misturava com a que a enciclopédia dizia, contava uma história e aquilo acabou virando uma inovação estética em termo de letra. Aqueles festivais do Olodum deram a base pra essa geração aparecer. Eu achava aquilo incrível, na terra de Raul Seixas, de “Gita”, bicho, que negócio incrível. Quando apareceu “Faraó”, era a coisa mais espetacular. Eu já identifiquei como a coisa mais espetacular, eu não largava aquilo por nada. Mas eu achava que aquilo ia ser moda. Em Salvador tem moda tem moda de dois, três anos, depois aquilo não vai pra lugar nenhum. Eu disse: deixa eu ficar quieta aqui que isso é bom demais. Deixa eu pensar aqui como é que vou construir o meu trabalho, e vou. Mas lá adiante o que é que fiz? Eles me davam as letras, às vezes tinham textos que eu achava mais pobres poeticamente, muita linguagem no infinitivo, muito verbo no infinitivo. Eu achava que podia enriquecer aquele texto, então comecei a interferir. Pedia licença pra compor junto, mostrava pra ver se eles gostavam, e fui interferindo nas letras, compondo. Eu já compunha com o Companhia Clic, mas não me sentia capaz de construir uma obra toda autoral. Não tinha exercitado isso, já era cantora antes. Eu já funcionava como intérprete, tinha que inserir a compositora a partir dali. Fui tentando, porque achava que precisava dessa construção, porque não tinha também música pra se cantar. Os temas também precisavam traduzir aquele momento, o Brasil daquele momento, o mundo, o meu olhar, de onde quer que eu pudesse olhar. Fui pegando o que eu me identificava em termos de discurso, tanto como mulher já posicionada pra não repetir coisas que me diminuíssem como mulher.
PAS: Tinha essa consciência?
DM: Já, tinha. Já tinha a consciência.
PAS: Como sociedade a gente vai adquirir essa consciência mais adiante.
DM: Acho que exatamente da dança, do uso do corpo, pra mim desde menina era muito nítido que eu queria me afirmar como uma pessoa pensante, uma artista que intelectualmente iria construir alguma coisa.
PAS: Mas aí vem a indústria cultural, e ela não vê você assim.
DM: Não.
PAS: É um dos nãos?
DM: É, até dentro do carnaval, eu faço um carnaval conceitual e as pessoas me olham… Não faz muita diferença, uma rainha má dentro do carnaval é um lugar-comum, mesmo que ela entre num caixão de defunto, se enterre como eu fiz, mesmo que ela mate as artes todas, faça questões filosóficas, humanas, mesmo que chegue ali na praça, pare a praça, mesmo que cante Bachianas de Villa-Lobos no lugar mais estranho, as pessoas fiquem em silêncio no meio de uma festa de um milhão de pessoas e algumas ainda fiquem com raiva depois porque eu botei elas em silêncio durante três minutos. Eu tenho que chocar, bicho, eu tenho que quebrar. A mesma coisa que eu fiz no Brasil eu tenho que fazer lá fora às avessas, chegar com música eletrônica. É aquela história, não é que a pessoa não goste de qualquer música, gostar de uma música que tá tocando não vai se contrapor tanto. Mas o cara não dança, o cara não dança. qual é a sua, bicho?, veio botar essa música dura aqui? Como eu ponho samba pros alemães e os alemães também não sabem dançar samba. Chegam com a mãozinha assim reta, porque eles conseguem compreender tudo que é reto. Nada que é sincopado é viável.
PAS: Paulista é meio alemão?
DM: Muito. Paulista, olha… Paulista é meio português. Depende da cidade onde esteja, “Dona Canô” (cantarola), “Dona Canô chamou”, que é samba de roda, vira obviamente um vira. No Coliseu eu tenho dezenas de shows gravados com eles fazendo o vira. Eles interpretam como uma variação de marcha. Eu fico brincando, porque não tem a síncope. E aqui acontece a mesma coisa, às vezes meio tarantela, talvez pela influência italiana. Mas fica ali, num nicho, também não é uma coisa nem outra. E no Rio também, por incrível que pareça, porque a célula do samba-exaltação é muito rápida e muito particular. E a nossa é até mais simples, mas só de ser mais lenta a nossa já era mais fácil. Mas (escandindo as sílabas) não adianta. Estou com a discussão lá com o Letieres Leite, a gente discute, eu digo a ele: não é a mesma batida da bossa nova. Não é a mesma batida dos sambas anteriores. Mesmo a clave sendo a mesma. Quando cê lê clave, mistura, um trecho vem do merengue, se pega uma parte da célula rítmica e mistura um surdo de merengue sendo feito lentamente com outra parte da célula que é de cabila, que é um samba brasileiro, que só quem pôs no violão direito foi Toquinho já fazendo os sambas afro de Vinicius de Moraes. Agora, quando fiz O Axé, a Voz e o Violão, fui investigar e foi a única pessoa que encontrei pra poder fazer um paralelo, porque eu tinha que explicar a meus músicos o que eu queria no violão. Ele pode fazer qualquer coisa. Você viu o show com Jaguar já, mas quem gravou foi Alexandre Vargas, que colabora com meus discos desde o começo da minha carreira. E Alexandre já faz mais espontaneamente minhas bases, porque é um guitarrista de base, faz muitos shows comigo. E Jaguar já faz com um acento mais samba-rock. Eu amo, mas não é samba-rock, Jaguar. Amo, faço até samba-reggae-rock, a gente faz umas construções mestiças também, adoro Jorge Ben Jor, é suingado pra caramba e é gostoso de cantar com a gente. Mas não é isso, ele dizia “eu não tô entendendo”, como não tá entendendo?, cê tem quantos anos de axé?
PAS: Samba-rock é meio samba de japonês.
DM: É samba americano, né? É samba-soul. A acentuação é sutilmente diferente, mas na hora que tô cantando não consigo dividir a canção. Por exemplo, “Por Amor ao Ilê” (1994) é um samba, parece um chorinho, (cantarola) “fiquei zangada nesse carnaval/ onde tu estavas, menino/ onde tu estavas, ô/ tava atrás do Ilê, menina”. Aí ele faz outra batida que não é essa, não funciona a música, não é isso. Fiz dois shows no teatro de Guarulhos antes de fazer aqui de novo, com Jaguar, que tava se adaptando ao show, e ele escapulia pro outro lado, ia pra outro lugar, eu dizia não, não, não, volta pra cá, venha, venha pra minha casa, venha pro meu axé, é Ilê, não tem como cê sair, “odé comorodé/ odé arerê odé”, e a batida, a clave principal do Olodum, que é do merengue, que é “Swing da Cor”, “não, não me abandone/ não me desespere”. É diferente. E o público consegue fazer a conversão, em todo lugar do Brasil, e até do mundo, mas não consegue fazer o ritmo. Depois de 25 anos cantando “Swing da Cor”, foi a tal do Masp, eu digo: cês tão treinando há 25 anos. Mas você vê, mesmo com a predominância do axé, como o axé trouxe samba de roda com É o Tchan, que virou aquela coisa, devolveu o samba aos pés do Brasil, mas variações dele. O Ara Ketu faz um pouco diferente do Olodum, do Ilê. Você tem ali comportamentos distintos, e cada um com seus discursos, mas ritmicamente de uma riqueza tamanha.
PAS: Quando uma mulher vira líder de massa em cima de um trio elétrico, quais são os nãos?
DM: Primeiro, o que ouvi foi que voz de mulher não é pra puxar trio elétrico, porque vai cansar quem tiver lá embaixo, porque é irritante e aguda. Foi o primeiro não. Quando assumi, com o Companhia Clic já e com o Bloco Pinel em 1990, nenhuma mulher puxava blocos que vendiam mortalha. Uma coisa é você fazer independente. Independente você tinha um patrocínio ou era convidado como artista, Novos Baianos fizeram, Baby do Brasil fez, você não deve nada a ninguém. Mas quem tinha que agradar aos associados, a quem já tinha se estabelecido do começo dos anos 1980 em diante, e no final já dando muito lucro, aí mulher não cantava de jeito nenhum. Eu fui convidada pro Cheiro de Amor, não quis ir pro Cheiro porque o dono do Cheiro ia querer mandar em mim e eu não ia deixar, então Márcia Freire foi. Fui convidada porque no barzinho eu cantava com o guitarrista Marinho Assis, que até faleceu este ano, que era o baixista do Cheiro de Amor, e eu cantava “que arerê, que arerê” com ele no barzinho, ele tinha as composições dele. Ele fez: “Você não quer cantar no Cheiro?”. Eu não pensava nem em cantar em trio elétrico, mas ele disse que eu cantava bem, “vai cantar lá”. Mas mulher vai cantar lá?, “vai, eles querem uma mulher”. Mas querem mulher por quê?, “porque querem uma cantora bonita, que cante bem”. Mas quem vai fazer o repertório, sou eu ou eles?, “ah, provavelmente eles”. Tá vendo como não vai dar? Não consigo no barzinho, chegava lá, cantava só repertório denso, “Atrás da Porta”, “As Aparências Enganam” (sucessos na voz de Elis Regina), só cantava música troncha, densa, triste, não sei por que eu fazia aquilo, fora as bossas que eu cantava.
PAS: Corta essa cena para o alto do trio elétrico…
DM: É, imagine botar no trio elétrico. No barzinho eu já tinha que brigar pra cantar o que eu queria, às vezes a pessoa encomendava o repertório. Quando eu sentia que encomendava eu já não ia ali. Não tinha um tostão, mas não ia, não, moço, não vai dar certo ser mandada, não. Tinha 16, 17, 18 anos quando fiz isso. As pessoas davam um papelzinho escrito “cante pra mim tal música”, “cante uma música aí”, eu dizia que não sabia aquela música. Não gostava, a música era muito ruim. Mas eu não disse que era ruim, disse só que não sabia, sabe o que o cara fez? Jogou dinheiro no chão do bar. Eu levantei, peguei o dinheiro e disse: não tem nenhum dinheiro no mundo que me faça cantar o que eu não gosto. A pessoa era assim no barzinho.
PAS: Esse também era um não, em forma do sim chamado dinheiro.
DM: Era não pra receber mais, a gente recebia muito pouco pra fazer horas de barzinho. No trio elétrico, pra mulher cantar, tinha que obedecer.
PAS: Retomando isso, quando a mulher conseguiu subir no trio? Por que, o que mudou pra ser possível?
DM: Eu sou a primeira artista mulher. Margareth também, que não fez os mesmos caminhos, não pegou o mainstream de Salvador. Margô não cantou em bloco grande, não foi quebrar essas barreiras. Ela fez uns caminhos paralelos, muito bons, musicais, então é difícil comparar, pergunta a ela os caminhos e as dificuldades dela como negra, como menina pobre. Eu também, era tão pobre quanto ela, ou mais ou menos. Nenhuma das duas tinha grana, mas eu fui fazendo várias coisas. Fui backing de Gerônimo, fui pro trio elétrico pra ver o que dava, o que era aquilo, pra aprender. Era um trampo pra mim, era um trabalho, a princípio não era…
PAS: Um trabalho difícil pra caramba, né, Daniela? Eu fico besta, parece o trabalho mais difícil do mundo.
DM: Era difícil. Comecei a fazer do lado dos cantores, Marcionílio na Banda Eva, ele era um bom puxador de trio porque vinha de história de banda de baile… Fui percebendo aquilo, eu tinha que dominar, que entender aquilo pra ver como eu faria daquele lugar um lugar de outro tipo de música. Foi o que fiz, o trio elétrico virou outro lugar, um lugar onde eu coloquei um tipo de música. Cada um botou o seu na minha geração, eu, Carlinhos Brown, Margareth, Luiz Caldas, o Asa de Águia, o Chiclete com Banana, que trouxe o galope. A gente conseguiu levar pra cima do trio elétrico uma música que a gente tava fazendo, uma coisa que não existia antes de nós. Na MPB, cada um de nós fez uma história. A gente trata pelo mesmo nome, mas eu sempre disse que o axé era uma vertente de MPB dançante, o lado, como diziam, música de meia estação e música de verão, não era de verão que eles chamavam, tem no livro de Augusto de Campos. Eles se referiam como uma música mais alegre, que vinha desembocar ou ter o auge no carnaval com as marchinhas, as canções alegres, os frevos. O país tropical puxava músicas mais alegres no segundo semestre. E tinha aquela música mais triste, melancólica, romântica. A gente pegou essa segunda vertente e desenvolveu a partir daí, por causa de onde a gente vive também. Mas é o tempo inteiro, nãos, quantos mais nãos? Milhares de nãos. Numa reunião também com Jorge Davidson eu falei: tô com algumas músicas aqui, acho que era O Sol da Liberdade, um disco que tem mais da metade de músicas minhas. Minha irmã, ela vai ficar zangada quando disser que foi ela, é uma socióloga, uma mulher feminista, um ano mais velha que eu, inteligentíssima.

PAS: A (também cantora) Vânia Abreu?
DM: Não, Cristiana, que é assistente social. Ela nem se lembrava disso, outro dia eu disse pra ela, eu tava mostrando as minhas músicas, e Jorge Davidson questionou se eram boas. Ele nem tinha ouvido. Ele foi meio irônico, eu disse: que engraçado, por que essa ironia?, eu sou compositora com “O Canto da Cidade” (1992), com Tote Gira, de “Música de Rua” (1994, com Pierre Onasis), “O Reggae e o Mar” (1994, com Rey Zulu), dezenas de hits meus já, desde o Companhia Clic. Sou compositora de quase todas as letras, grande parte das melodias, dos arranjos, sou produtora dos meus álbuns. Sou interventora de tudo quanto é jeito, me meto em tudo que ninguém quer. Nem musicista sou, mas me meto, brigo, sou chamada de canário, tenho que brigar com meus músicos. Porque músico não necessariamente constrói conceito, mas se zanga se alguém disser a ele o que fazer. Então tive que deixar de ser canário e dizer que era águia o tempo inteiro, porque senão eu era canário. Qual é, bicho?, quem lhe chamou pra cantar comigo fui eu e agora você vem me dizer o que eu vou fazer? Se não quiser saia. Se não quiser não fique. Ou faz o que tô pedindo ou então não me interessa, não vai rolar. Não posso fazer a direção musical de um show ou disco, construir um trabalho, sem fazer laboratório. Trouxe a experiência de dança e usava lá, pra coreografar a banda. E Jorge ficou sendo irônico, e a minha irmã fez: “Ah, mas você não vai querer fazer músicas tão boas quanto as de Caetano”. Eu disse, ô, qual é o parâmetro? Lógico que eu quero fazer, lógico que tenho a pretensão de fazer tão boas quanto as deles.
PAS: Mas vá uma mulher falar isso. Até hoje ninguém falou, no auge do calor da hora.
DM: Você não pode desejar isso, lutar por isso, construir uma obra? Que loucura, se impedir alguém de pensar que pode, impedir uma mulher de pensar que pode. Isso foi quando fiz Sou de Qualquer Lugar, um disco pós-Sol da Liberdade., exatamente esse que achei que tinha que dar uma virada e comecei a pesquisar mais fortemente, inserir eletrônica e fazer pós-produção. É um dos meus discos mais celebrados na Alemanha, por revistas especializadas, de reconhecimento do que foi minha pesquisa. Eu anunciando uma nova vertente de eletrônica, que não era o que já havia se feito, a música que mais tocou naquele ano foi “Mutante”, uma releitura de Rita Lee que teve sucesso comercial.
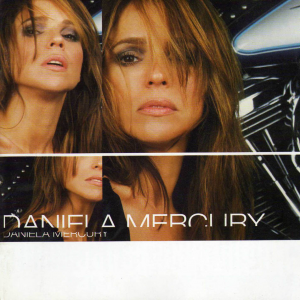
E ele, naquele disco que eu tava tentando fazer pra sair um pouco daquela coisa do discurso do axé que eu mesma tinha trazido até ali, da negritude, da festa, da alegria, de Salvador, pra mudar um pouco e contextualizar um pouco a partir do Rio e de São Paulo, ritmicamente mantendo, mas mudando o texto e as harmonias. Eu chego lá, digo: vou fazer um disco mais íntimo, mais pessoal, em vez da falar da cidade e do país, faço minhas crônicas, meu olhar sobre a vida política e social do país, minhas analogias com o carnaval, minha pantomima. E ele fala pra mim, como foi?, não vou lembrar exatamente: “Eu não quero saber o que uma mulher pensa. Não me interessa o que uma cantora pensa”.
PAS: Na bucha?
DM: Eu fiz (ensaia se levantar do sofá), pela segunda vez. Pela segunda, não, pela milésima vez, eu ameacei rasgar meu contrato várias vezes por causa dele, porque ele é uma pessoa insuportável, desagradabilíssimo, desrespeitoso (risos).
MV: Nossa!
PAS: A batata dele tá assando hoje…
DM: E preconceituoso. Levantei e fiz: tá. Não precisava dele pra fazer o que queria. Precisava que ele não me atrapalhasse. Mas fiquei com tanto ódio, tanto ódio. Nisso já tava na BMG. Como é que você trabalha?, eu já tinha virado prioridade do mundo.
PAS: Dava dinheiro à beça pra eles…
DM: Primeiro eu era da Sony, depois da BMG (em ambas as multinacionais, foi dirigida por Jorge Davidson). Mas tudo foi muito difícil, O cara do regional, que era da Sony na época, encontrei com ele no Grammy e reclamei com ele. Tomás Muñoz e todos os chefões da Sony norte-americana deram muita força, gostavam muito do meu trabalho, e o dono da Sony (Akio Morita) disse que eu era a prioridade da gravadora, ficou encantado com as músicas que fiz numa convenção. Pra que, né? Não adiantou nada ele ter feito aquilo, porque as vaidades dentro da companhia eram tantas, e eu nem entendia direito o que acontecia. Eu queria trabalhar, fazer minhas coisas e expandir a carreira internacionalmente, ah, mas não podia, né? Era uma cantora. Primeiro, mulher. Só tinha homem na gravadora, e o Tomás Muñoz… Um joga pro outro, até hoje não sei quem foi que atrapalhou mais, Roberto Augusto, Tomás ou Jorge. Só sei que eles queriam que eu fosse obediente, e eu nunca fui. Eu jamais seria a artista que sou se eu fosse obediente. E tudo foi muito complicado, tudo era dificuldade: dificuldade com budget, falavam uma coisa e faziam outra.
PAS: Daqui de fora parecia que era uma harmonia só.
DM: Ah, era insuportável. Muito desrespeitada o tempo inteiro, muito, muito. Imagine que consegui fazer tudo isso com tanta dificuldade interna.
PAS: Talvez por isso?
DM: É tipo assim, você tem uma equipe inteira que tá dificultando a sua vida, que não facilita. Jorge não queria que eu gravasse “Rapunzel” (1996), não suporta “Rapunzel”. Não sei se ele gosta até hoje, mas é um dos maiores hits meus no mundo. Ele não gosta de um monte de coisa. Ele nem é tão importante assim, mas disse tantos nãos que…
PAS: Preciso me despir um pouco e me somar a esse…
DM: Eu não queria, porque o não é o negativo, mas…
PAS: É com quantos nãos se faz um sim…
DM: …Tá sendo inevitável dizer que houve parede pra caramba, um monte de muro. Aliás, a gravadora, a primeira coisa, quando cheguei com O Canto da Cidade, foi dizer: “Eu quero que você grave música cigana”. Olhei pro lado e falei assim: tem alguém aqui além de mim? Depois do Masp, a Sony queria que eu gravasse música dos Gipsy Kings, que estavam estourados no mundo! Foi o tempo inteiro, era uma loucura. Eu ficava estupefata. Você tem que provar mil vezes, é aquela história de que mulher tem que fazer infinitamente melhor, fazer antes, provar que é possível. É a mesma coisa que qualquer pessoa que não esteja já inserida dentro de um contexto. É o verdadeiro preconceito, né? É quando a gente sofre preconceito continuamente, continuamente, e precisa fazer um esforço gigantesco pra conseguir fazer as coisas. E, depois, pra que se observe da maneira adequada, porque é o tempo inteiro, ela não compõe bem, ela não sei o quê, ela não sei o que lá. Pô, rapaz. Mas se fosse pertinente, se fosse só um não gostar por gosto, por conceito, ideologia, alguma coisa… Mas não, eu via muitas vezes que era lugar-comum. Aquilo já está estabelecido. O que é que me falaram esses dias? “Ah, você não vai fazer isso, né?” É o tempo inteiro, “você não vai se comportar desse jeito”, em tudo.
PAS: Uma moça de família não faz essas coisas?
DM: É quase isso, uma mulher historicamente não faz essas coisas que você faz.
PAS: Então, eu queria dar um testemunho pessoal, me despir um pouco. Eu penso muito sobre as coisas que escrevi antes, não só sobre você, mas sobre axé na Folha, por exemplo, nos anos 1990, 2000. Eu me irritava e me incomodava com você, com o axé de uma maneira geral.
DM: Ainda bem que você se incomodava mais comigo (risos).
PAS: Mas eu escrevia sobre você, dos outros eu nem escrevia.
DM: É isso.
PAS: A Folha, nenhuma mídia escrita estimulava que se falasse sobre nenhum de vocês.
DM: Eu só fui reclamar, você sabe por que eu reclamei de você no Elétrica (1998)? Porque você botou um espaço muito pequeno (risos). Eu liguei pra dar uma bronca, pá, fiquei dois anos sem falar com a Folha por causa de você. Eu expulsei a Folha das minhas… Nem lembre isso a eles pra não se zangarem hoje mais comigo.
MV: Voce tá gravando, tá dando entrevista, hello!
DM: Mas eu evitei, disse: enquanto a Folha, enquanto as pessoas não me respeitarem, eu não acho legal vocês estarem aqui. Não vou ficar aqui dando argumento pra vocês falarem desse jeito comigo. O problema não é falar bem ou falar mal. Não fale desse jeito comigo. Não seja desrespeitoso. Cê tá equivocado, eu via que era questão da perspectiva que se tava olhando. Então foi uma provocação, peraí, vamos organizar isso aqui. Que bom que… Porque eu achava também que esse diálogo é enriquecedor pra todos nós.
PAS: E só retomando, eu tento reavaliar. Na época eu não sabia o que era que tava sentindo, o que me incomodava e irritava – são dois verbos que tô usando. Acho que simbolicamente, sendo honesto, a primeira coisa é aquilo que é a briga São Paulo-Bahia: alegria alheia incomoda, alegria demais irrita.
DM: Com certeza.

PAS: A segunda coisa, que você era essa mulher dando ordem no terreiro em cima do trio elétrico. E homem é machista. E eu era e talvez seja, um machista não conseguia aceitar aquilo. E aí, que desculpa você dá pra si mesmo? Aí é o processo coletivo que a gente vive de lá pra cá: mulher, Nordeste, negro, música negra, todos os preconceitos estão juntos concentrados na mesma pessoa.
DM: Música alegre, rítmica, com “oi oi oi” e “lá lá lá” e “lê lê lê”…
MV: E gay agora.
PAS: Gay já não tenho tanto o preconceito, aí já melhorou (risos).
DM: Tô dizendo agora no show de brincadeira: cuidado com os “lê lê lês”, os “lê lê lês” escondem coisas importantíssimas. Cuidado com os “oi oi ois”. Diziam que a gente não dizia nada, olha aí.
PAS: O que tô querendo dizer, dando meu testemunho, é uma coisa mais geral: o grande incômodo que você causava, que é a mesma coisa que fazia você ser amada por multidões – que era o não, mas era o sim também, porque era o maior sucesso do momento -, é porque você era mulher e tava se empoderando.
DM: Eu não sei, eu não sei o que era…
PAS: Você era uma Dilma Rousseff daquele momento, e a sociedade não gostava disso.
DM: É, né?
PAS: Ao mesmo tempo que o chamado povão gostava. A pessoa lá na rua dançando o seu som não tinha esse problema.
DM: Não julgavam isso, né?, isso não tava em questão. Arte você oferece. As pessoas têm o direito de querer ou não, de gostar ou não. Elas são tão livres, né? É uma história também de grandes cantoras, um pais de grandes intérpretes mulheres, femininas.
PAS: Mas nem todas dizendo “EU”…
DM: É, a gravadora também estranhou, “a cor dessa cidade sou eu”, eles achavam que isso era demais. Mas eu dizia: não sou eu, são os caras lá de Salvador, é a negritude, “não diga que não me quer”. “Não, mas você dizer ‘a cor dessa cidade sou eu’!” Não há empoderamento maior do que o que se consegue realizar efetivamente. Ser um ícone de arte, de qualquer área, é o que mais transforma, influencia e inspira as outras pessoas. É você ser quem é, não necessariamente o que você diz. É você conseguir fazer as coisas daquele jeito, naquele momento, quebrar aqueles tabus, aqueles comportamentos, abrir espaços que não haviam daquela maneira.
PAS: Você pegava os nãos e transformava em sins.
DM: É, mas o tempo inteiro brigando, sutilmente, porque sou muito diplomática. Mas cansativo, cansativo. Tanto é que em várias horas pensei muito: o que é que eu tô fazendo aqui? E se de alguma forma eu fui pra fora do país, concentrei meu trabalho fora do país, é porque fora do país eu não tinha esse tipo de confronto. A Europa e os Estados Unidos, primeiro, me reconheciam como artista. As críticas ao meu trabalho sempre foram irretocáveis. Isso me dava uma motivação gigantesca, tô num caminho legal. Porque dialogar com o mundo era estar passando pelos crivos estéticos do mundo. Quincy Jones me deu os parabéns, Lalo Schiffrin, Los Angeles Times, New York Times, várias vezes, The Guardian assistia meu show, batia cabeça pra mim. David Byrne foi ao show e disse: “Eu tinha tudo pra não gostar dela”.
PAS: Até ele ensaiou um não?
DM: Porque tinha o esterótipo da cantora pop, né? Pra eles, eles têm mais cantoras que dançam. Aqui não tinha ninguém que dançava. Ele pagou pra ver. E, como fui num centro de vanguarda de Nova York, porque sou muito metida, muito perturbada, como a gente diz na Bahia, uma louca mesmo, eu me meto nos ambientes das pessoas mais cricris, mais exigentes. Conseguimos fazer aquele show naquele centro de vanguarda de música, o Centro de Artes do Brooklyn. Eu tinha tudo pra ser apedrejada ali, como artista pop, se eu sou essas cantoras de axé que você via, o estereótipo de uma cantora superficial, de música desimportante, imagino que todos os clichês. A última coisa que eu fazia era clichê, mas, não sei por que, todo mundo acha que é clichê. E aí fui pra lá, e ele não conseguiu falar mal do show, achou espetacular, porque é muito rico musicalmente. Como executante, como performer, eu tenho muitos anos de estrada, canto bem, sou afinada, tenho consciência disso. Senão, o que que eu tô fazendo aqui? Sou louca? Quem sobe no palco e sabe o que é bom é louco, né? Cê tem que ter alguma confirmação de que você é capaz de estar ali. Eu já tinha tido várias. Agora, fui pra fora do país porque eu não aguentava. É muito cansativo. Era o tempo inteiro a imprensa do Sudeste tentando me fazer bater nos colegas do axé, “você não gosta disso”, “você não gosta daquilo”, tentando me separar, separar o joio do trigo, e eu dizendo que não, que não, porque eu sabia que aquilo tava em construção, que eu não sabia o que ia acontecer, que tinha muita gente talentosa. A arte é isso, precisa ser oferecida, testada, sentida, pra depois se ver o que é que vai dar. Quem era eu pra ficar definindo o que se devia ou não se devia fazer? É um papel muito cruel o de crítico, né?
PAS: Bisonho.
DM: É um papel que alguns fazem como resenha…
PAS: Se arvoram a fazer, porque também não deveriam.
DM: É, não têm a bagagem de conhecimento melódico, harmônico e conhecimento da música do mundo pra falar daquele assunto. Então também outras vezes eu recebi elogios no Brasil e não transformaram a minha vida, porque eu via que o que me interessava que fosse discutido ali não tava sendo. Todo o esforço que eu fazia para fazer algo autêntico e bem-feito, criativo, não era reconhecido. É muito sozinha, muito isolada. Dá uma tristeza, mesmo com toda alegria, que eu descobri ao longo dos anos. Você não viu o show Pelada (2013), antes deste. Eu resolvi fazer um show acústico, com quatro músicos, que depois virou este mais sem roupa ainda. Eu dizia: “Mais pelada que sem roupa, essa alegria tosca que me persegue, ou eu a persigo, ou qualquer sentimento possível pra me celebrar”. Eu no fundo vivia o tempo inteiro tentando, como pessoa, artista, cidadã, mulher, tudo que sou, existir, fazer entender o que efetivamente eu tinha construído. E estando muito solta do grupo, porque eu não me identificava totalmente com o discurso dos meninos, dos outros colegas do axé, nem todos, um pouco mais com Brown e Margareth, que são os que sou mais próxima mesmo. A gente fala e se entende. Os outros a gente fala, mas fala línguas diferentes, cada um com a sua contribuição. Então me sentia muito sem aconchego, sem ninguém dando reforço, só a gente. Ouvia o disco do Brown e dava retorno pra ele, depois fiquei mais próxima de Lenine. Lenine ligava pra mim e dizia, “pô, que linda essa música, que arranjo massa”. Ele me ligou pra falar de “Aeromoça” (2001), “parabéns, pô, você produtora”, foi o primeiro colega que ligou pra dizer: “Você produziu, a música é sua, a faixa é sua, o arranjo é seu, que massa, parabéns, eu adoro, a música é linda, a ideia é linda”. Foi o primeiro retorno que eu recebi de um artista no Brasil, fora Caetano, que eu não posso dizer…
PAS: Esse desde o momento zero.
DM: Caetano sempre apontou. Ele não explica tanto, ele diz frases e larga aquilo assim.
MV: É quase uma psicanálise.
DM: É, a primeira vez que ele me falou foi com um compositor maravilhoso, carioca, sambista, que faleceu, com H (só depois de publicada a entrevista ela se lembra e pede para Malu avisar: é Herivelto Martins). Daqui a pouco eu me lembro. Eu conheci, ele já era velhinho, a gente tava num evento, Caetano fez: “Vocês dois aqui juntos, que coisa linda”. Foi a frase que ele disse. Daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Ele vai pontuando assim coisas que ele acha legais e que dão um reforço pra pessoa que tá querendo algum retorno, alguém que olhe. Adriana Calcanhotto percebi que várias vezes compreendeu. Mas às vezes é até a linguagem, artistas de outros lugares não entendiam muito. Lembro que uma vez Ana Carolina chegou pra mim e fez assim: “Eu não sei se gosto muito desse tipo de música que você faz”. Por quê? “Tem um negócio de jereré, jereré, xerém, xerém”. Oxa, e lá em Minas, como é que cês falam? Depois de conversar, e explicar pra ela o que significavam as músicas…
Essa (refere-se a “Terra Festeira”, 1998, de Alain Tavares e Gilson Babilônia) foi feita para Salvador, mas não foi por mim, foi pelos meninos lá. Eu não conseguia fazer uma música pra celebrar Salvador sem ser crítica à cidade que também é excludente, também tem várias questões. Eu não conseguia cantar uma música de parabéns a 450 anos de Salvador, então pedia a alguém pra me socorrer. Só gravei porque ele fez “cidade, eu hei de amar você”, um compositor popular, por essa frase eu vou gravar, “jereré, jereré, jereré, xerém, xerém”, as pessoas veem tudo menos isso, “ê, cidade que canta, ê, povo que dança e faz festa pro mar/ ê, cidade da Bahia, cidade da poesia, quero te cantar/ eta terra festeira de gente festeira que dá nó em pingo d’água/ que agita, que agita/ o além veio lhe avisar que aqui é de encantar, quero lhe parabenizar, cidade eu hei de amar você”. Esse “hei de amar” é o máximo, entendeu? Como é “não diga que não me quer” do “Canto da Cidade”. Todas as músicas que cantam têm um ponto de crítica, tão ali cutucando alguém.
PAS: Talvez a gente tivesse ouvindo isso e se incomodando com o penduricalho que tava do lado, como o jereré.
DM: É, com o penduricalho.
MV: Esse “eu hei de amar você” é praticamente Gregório de Matos, “essa cidade é feita de dois efes, um furtar, o outro foder”.
DM: “Um furtar, o outro foder”, exatamente isso. Quando vinha esse olhar crítico, eu dizia: agora eu canto.

Show !!!!!!