Joyce Moreno concedeu a entrevista abaixo ao longo de algumas semanas – às vezes de modo mais apressado, mas sempre com riqueza de detalhes e fartas doses de generosidade. FAROFAFÁ, por seu formato exclusivamente digital, permite que nada desse caldo suculento seja desperdiçado. Há vasta e deliciosa carga de informação nas linhas abaixo, que o autor do texto elege sublinhar com negritos em trechos para os quais gostaria de chamar atenção por alguma razão.
Uma das últimas perguntas restou não-respondida. Estamos em transformação-convulsão-movimento. Tudo pode mudar, tudo pode continuar, tudo pode aumentar – diminuir, não, porque vivemos em tempos wikileaks, vatileaks, tudoleaks. Nos hiperlinks abaixo, a entrevista de Joyce é feita de texto, contexto, imagem & som. Há mais som aqui, para quem queira ler Joyce ouvindo Joyce & seus muitos intérpretes. Se em seu livro Fotografei Você na Minha Roleyflex Joyce fala da MPB como “farofa estético-balneária“, é de farofa(fá) que também estamos falando aqui – e as semelhanças são meras coincidências, todas (quase) sem querer.
Pedro Alexandre Sanches: Como uma garota criada pela mãe sozinha partiu para se tornar compositora numa cidade e num mundo dominados por compositores, por homens?
Joyce Moreno: Olha, acho que já vim pronta pra comprar essa barra. De cara, na infância e na adolescência, eu era super nerd, lia de tudo, ouvia muita música, e nunca me conformei com um possível futuro papel de musa. Eu mesma queria ser o sujeito das minhas criações. No começo eu pensava em escrever, mas depois que o violão entrou na minha vida a música foi tomando todos os espaços. Claro que eu era uma menina numa casa com irmãos mais velhos e uma mãe funcionária pública, que trabalhava o dia todo no Ministério da Fazenda e era a provedora da família. Então lá em casa nunca rolou a princesinha. Eu era muito cobrada para estudar, e estudei mesmo. Minhas notas eram sempre as melhores do colégio.
PAS: Pode contar um pouco sobre a sua mãe, a ascendência étnica dela, a influência que teve (se é que teve) na sua ligação com a música?
JM: Família materna de classe média bem média carioca. Nasci e fui criada em Copacabana, no Posto 6, divisa com Ipanema, num apartamento de dois quartos. Meu avô materno, Pedro Ivo Velloso da Silveira, era comandante da Marinha Mercante, e o navio dele, Cabedelo, foi torpedeado em 1942, parece que por um submarino italiano. Outros navios mercantes também foram, e assim o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial. O dele não teve sobreviventes. Minha avó, na época, morava em Santos com duas das filhas ainda solteiras, e levou anos para conseguir que o governo brasileiro reconhecesse a condição de viúva dela. Eu não cheguei a conhecer esse avô, evidentemente, já que nasci em 1948, mas o gosto musical dele pode ter por tabela influenciado o que rolava de música lá em casa. Por força da profissão ele ia muito a Nova York e trazia discos de jazz e ópera. Esse gosto dele passou para minha mãe, e dela para nós. Minha mãe era uma mulher lindíssima, morenaça de olhos verdes na Copacabana dos anos 1950. Fazia o maior sucesso na praia, mas era seríssima, quase nunca namorava e criava os três filhos (meus dois irmãos mais velhos e eu) com muito rigor nos estudos, principalmente. Nós três completamos universidade e trabalhamos cedo. Lá em casa ouvia-se música direto. Minha mãe era fã de Frank Sinatra e Bing Crosby, e de big bands como as de Tommy Dorsey e Benny Goodman. Sempre me levava pra assistir aos musicais da Metro. Mas também gostava de sambas, cantava muito pra mim sambas de Wilson Batista, Sinhô… Gostava de Elizeth Cardoso também. Já o Newton, meu irmão do meio, 13 anos mais velho, trouxe pra família um jazz mais moderno, mais bebop, e a bossa nova. E sim, todos adoravam Dick Farney e Lúcio Alves, eram unanimidade entre mãe e filhos. Cresci ouvindo isso tudo. Minha mãe teve deixar os estudos aos 14 anos, quando ficou noiva do primeiro marido, pai dos dois filhos mais velhos dela. Depois teve de ser autodidata pra poder trabalhar. Por isso mesmo sempre se esforçou pra me proporcionar cultura. Música, literatura (me deu a obra completa de Machado de Assis quando eu fiz 12 anos, e eu li tudinho, adorei), uma boa escola. Aos 15 anos, perguntou se eu preferia um baile de debutante, como todas as minhas colegas estavam tendo, ou uma viagem à Europa. Ela já sabia que eu ia preferir a viagem. Vi com ela todos os museus, ela achava importante pra minha formação. Morreu em 2002, aos 90 anos, superlúcida e fazendo palavras cruzadas todos os dias. Foi uma grande avó pra todos os netos e netas.
PAS: E o seu pai dinamarquês, você chegou a conhecer? A vocação internacional da sua música poderia se explicar talvez a partir dessa origem híbrida?
JM: Conheci meu pai biológico aos 16 anos. Ele teve outros sete filhos além de mim, antes e depois de eu nascer. No começo era tudo muito misterioso, ninguém me explicava direito essa história e eu não sabia exatamente quem era meu pai. Depois que o conheci, já mocinha, entendi que ele era um cara meio aventureiro, que não parava muito tempo em lugar nenhum, nem com mulher nenhuma. Um homem muito bonito, louro, olhos azuis e uma lábia aparentemente irresistível. Acho que a herança que trago dele é a facilidade que sempre tive para aprender idiomas. Falo, leio e escrevo em cinco, fluentemente. E em mais dois, alemão e japonês, eu conheço mais ou menos o básico, dá pra me comunicar com garçom e chofer de táxi. Mas meu pai falava uns oito idiomas, bem mais que eu. Eu diria que a vocação internacional não é da minha música, que tem raízes bem brasileiras, mas minha mesmo, pessoalmente. Não esquecendo o meu avô marinheiro… Gosto de correr mundo, entender outras culturas, falar outras línguas.
PAS: Entendi pela biografia no seu site que seu irmão mais velho foi o condutor de seu encontro com a bossa nova. Ali se tratava de um “clube do bolinha”, não? Como era ser menina naquele ambiente, e como a compositora conseguiu (ou não conseguiu) emergir dali?

PAS: Como foi a polêmica de 1967, citada na biografia, em torno da letra de “Me Disseram” (“já me disseram/ que meu homem não me ama/ me contaram que tem fama/ de fazer mulher chorar”)? Que impacto teve sobre a compositora iniciante de 19 anos?
JM: Eu nunca entendi por que não havia canções brasileiras no feminino escritas por mulheres. As poucas compositoras brasileiras de até então eram muito tímidas quanto a isso, as letras eram neutras. Quando comecei a compor pra valer, as músicas foram saindo assim, no feminino singular. Não é que eu tivesse planejado nada, pra mim parecia natural o uso dessa linguagem. Só que quando classifiquei “Me Disseram” no festival foi um escândalo, com vaias e tudo. E quando meu primeiro LP saiu no ano seguinte, em 1968, houve até críticos que chegaram a pôr minha autoria em dúvida, dizendo que as músicas eram boas demais para terem sido feitas por uma mulher… Depois, ao longo dos anos, essa linguagem passou a ser aceita e usada por outras compositoras que foram chegando. Só que aí a batalha pra mim já estava em outro nível: provar que uma mulher podia ser também instrumentista de respeito, e, principalmente, bandleader. Foi outra batalha vencida, mas também levou algum tempo. O Brasil ainda é muito conservador nessas coisas.

JM: Como já te falei, eu tinha ambições na música que iam muito além de uma carreira de cantora. Eu queria ser primordialmente compositora, e gostaria de ser arranjadora também, ou seja, ter o real controle sobre meu trabalho – como afinal tenho hoje. E naqueles anos 1960/1970, era bem raro uma mulher fazer isso. Portanto ‘Não Muda Não’ era meio uma tomada de posição minha (inconscientemente feminista, sim), de dizer ao hipotético “futuro marido”: pode continuar sendo o que você é, eu não quero que você mude. Esqueci de dizer que eu também não pretendia mudar… Lembrando que naquela época a posição feminina na vida e na MPB era a de ser “exatamente essa coisinha” (verso de “Minha Namorada, de Carlos Lyra e Vinicius de Moraes)… E lembrando ainda que um verso de ‘Não Muda Não’ sofreu censura interna na gravadora. Era para ser ‘ eu não dou pra essa vida burguesa’, e a palavra ‘burguesa’ foi vetada, por ter alguma conotação política. Só gravei a versão original em 2008, no DVD dos 40 anos de carreira.

JM: O primeiro é musicalmente um pouco mais conservador, mas eu adoro. Acho que a compositora ali já punha bastante as manguinhas de fora. Gosto dos arranjos do Dori (muito!) e do Gaya, mais tradicionais, mas pertinentes. No segundo LP (Encontro Marcado, de 1969) já existia a tropicália, um caminho musical mais internacionalista, e uma intenção da gravadora em me empurrar pra um caminho mais pop, “sensual e esperta”. Eu observava todos estes movimentos que estavam acontecendo na cena musical, era amiga de todos os caras da minha geração, que muitas vezes não se davam entre si. Então eu ali meio que procurava um caminho meu, que só fui achar no disco Feminina, muitos anos depois.
PAS: “Adam, Adam“, a primeira música do Encontro Marcado, tem versos de “domínio público” que eu, paranaense, só conheci pela faixa de abertura do Araçá Azul do Caetano Veloso, que, por sinal, saiu quatro anos depois do seu. Qual é a história desse “Adam, Adam”? Há alguma relação entre a sua versão e a do Caetano?
JM: Nenhuma relação, embora eu seja casada com Tutty Moreno, músico que teve grande participação criativa no Araçá Azul – mas nessa época a gente ainda nem se conhecia. Aprendi este samba de roda, e outros, com Dori Caymmi, que certamente aprendeu com o pai dele (Dorival Caymmi). Dori sempre foi um grande amigo. E nessa época a gente se frequentava muito.
PAS: “Copacabana Velha de Guerra” (1969) tem um arranjo que me faz pensar ao mesmo tempo em tropicália, toada moderna, Marcos Valle, Wilson Simonal, e foi gravada no ano seguinte pela Elis Regina – uma mulher gravando uma composição de outra mulher. Que impacto teve isso pra você? Os brasileiros estavam prontos para uma disparada feminina em 1970?
JM: Esse som de arranjo (no caso dessa música, escrito por Luiz Eça) era o som da moda naquela época. Todo o mundo gravava assim. Eu acho esse tipo de som bastante datado, por isso mesmo o meu segundo LP não está na minha lista de favoritos… Mas foi uma glória para a compositora de 21 anos ser gravada pela Elis! Eu já tivera algumas músicas minhas cantadas pela Maria Bethânia, antes mesmo de eu ter aparecido no festival e gravado o primeiro LP, mas ela não chegara a me gravar, o que só aconteceu em 1979 (com “A Cor Brasileira”). Elis estava no júri do Festival Internacional da Canção de 1969, ouviu a música e gravou em seguida. Ela não perdia tempo quando gostava de alguma coisa.
PAS: E sobre o compacto duplo de 1971, com A Tribo? Como se formou e o que era esse grupo? Aí você já tentava ser a bandleader que citou na resposta sobre “Me Disseram”?
JM: Não, eu de bandleader na Tribo não rolava, embora eu no início acreditasse que seria uma relação entre iguais. Composições, por exemplo, só “dos meninos”… Acabou que fui subaproveitada no grupo, e olha que eu tinha praticamente desistido da carreira solo pra embarcar nesse coletivo. Acabei numa função de vocalista, que qualquer outra boa cantora poderia fazer. Bem que o pessoal da gravadora tentou de tudo pra que eu desistisse dessa ideia… Mas quando eu cismava com alguma coisa não adiantava tentar me convencer do contrário. Às vezes depois eu via que as outras pessoas estavam certas, mas aí, já era… O grupo éramos eu, Nelson Angelo, Novelli, Toninho Horta e Naná Vasconcelos (mais tarde substituído pelo baterista Nenê). Morávamos todos juntos, em comunidade, era um tempo bem hippie…

JM: Pois é, não deu muito certo, não… O disco (Nelson Angelo e Joyce, de 1972) com o Nelson é muito bonito, mas não tem praticamente nada do meu pensamento musical. Ele é um músico que eu respeito e admiro, mas o meu espaço musical ali foi completamente tolhido. Mas também eu estava envolvida com fraldas e bebês, então fui levando até onde deu. A gravadora Discobertas lançou no ano passado uma compilação de raridades minhas, que tem bastante coisa dessa fase eu-antes-de-mim. Você conhece? (Conheço!)
[ Uma metapergunta se interpõe entre as trocas de e-mails:
PAS: Enquanto isso, puxa, vou fuçando nos meus acervos aqui e encontrando primeiras canções suas gravadas por Marília Medalha, Célia, Evinha, Umas & Outras – sempre mulheres gravando canções de uma mulher… E ouvindo “Abrace Paul McCartney por Mim” e pensando no “Para Lennon e McCartney” dos mineiros… Nesse caso já parece o Milton retrucando a paixão juvenil da menina pelo Paul… (Asas à imaginação, hahahaha, por isso que gosto tanto de música…)
JM: Errou! Quando eu fiz “Abrace Paul McCartney” (por encomenda da Dorinha Tapajós, do grupo Umas & Outras, e mais tarde do Quarteto em Cy) já existia “Para Lennon e McCartney”, só não tinha ainda sido gravada. A minha foi feita pra um ex, beatlemaníaco, que vinha a ser… um dos autores da outra, mas isso é uma loooonga história. O Milton não é autor dessa música, só gravou lindamente (os três autores são Lô Borges, Márcio Borges e Fernando Brant). Eu fiz os arranjos vocais do LP Umas & Outras (Poucas e Boas, de 1970), por sinal. ]
PAS: A história d’A Tribo é parecida com a dos Mutantes, não? A comunidade hippie, a mulher que não podia ter muitos papéis no grupo, a gravadora preferindo as moças em carreiras solo de cantoras… Acho que ninguém jamais chamaria você de uma artista tropicalista ou roqueira, mas sempre achei curioso você ter uma música chamada “Minha Gata Rita Lee” (e uma gata chamada Rita Lee?) (a música foi gravada no LP Saudades do Futuro, de 1985). Há algum tipo discreto de solidariedade feminina aí?
JM: A gata era a cara da Rita, não havia outro nome possível. Na mesma época tivemos um cachorro chamado Oscar, que era a cara do Oscar Castro Neves. Era só por isso… Mas sim, o mundo era esse, meninas não entravam no clube da criação. Meninos ficavam extremamente ameaçados com isso. Mulheres tinham de ser porta-vozes do pensamento masculino. E muitas foram, e têm sido, brilhantes nesse papel. Mas eu sempre quis expressar meu próprio pensamento e minhas próprias ideias musicais.

JM: Como já te disse, eu sempre passeei por todos os grupos, sem exatamente fazer parte de nenhum. Desde o meu início na música foi sempre assim. Havia várias turmas paralelas, todas brilhantes e escrevendo capítulos novos na MPB – que tempos! Veja só: havia os baianos tropicalistas; os mineiros do Clube, agregados em torno do Bituca (Milton Nascimento); a segunda geração da bossa nova (com a qual eu me identificava bastante musicalmente), com Edu Lobo, Dori Caymmi, Marcos Valle; os novos sambistas do Rio de Janeiro, como Mauricio Tapajós, Paulinho da Viola, Elton Medeiros, Sidney Miller – e Jards Macalé, que também frequentava diferentes grupos e foi um dos meus primeiros parceiros (somos grandes amigos até hoje), nessa época Macalé fazia choros e modinhas… E havia o Chico Buarque, unanimidade em todos os sentidos, adorado pelo público e discretamente detestado/invejado pelos colegas… Eu era amicíssima de todos, sem exceção, embora estes grupos muitas vezes não se dessem bem, pois era a época dos festivais e tudo era muito competitivo. Mas eu não conseguia fechar totalmente com um grupo só, gostava de todos, achava que todos estavam certos dentro das suas razões. Então os baianos achavam que eu era mais ligada a eles, porque eu frequentava as reuniões nas casas de Torquato Neto e Bethânia. Mas os mineiros também… E os cariocas, nem se fala, era a turma que se reunia nas casas do Tom Jobim, do Vinicius de Moraes e do Luizinho Eça… Eu sozinha era a quinta-coluna da MPB! Os mineiros eram meio sem-teto aqui no Rio, vinham de ônibus, sem grana e sem ter onde morar. No apartamento que o Bituca dividia com Novelli e Helvius Vilela moravam quase 20 pessoas – numa quitinete. Então nós, cariocas, começamos a hospedar o pessoal. Acabou que tive um namorico com o Lô Borges (“Abrace Paul McCartney” etc.) e acabei me casando com o Nelson Angelo, numa viagem ao México que fizemos num grupo chamado Sagrada Família, liderado por Luiz Eça. Por essa convivência, vi grande parte do que depois se chamou clube da esquina ser gestado na minha casa. Mas, apesar da amizade, musicalmente não me influenciou, não. De todos os mineiros, o que sempre teve maior afinidade musical comigo é Toninho Horta. Mas isso porque ouvimos as mesmas coisas na adolescência, ele é mais jazz e bossa nova do que Beatles, assim como eu. Então, sempre que dá, até hoje tocamos juntos (e gravaram o disco Sem Você, lançado em 1995).
PAS: Sei que você falou brincando, mas “quinta coluna” é um termo pesado, né? Você se via como uma? Ou era vista como uma pelos diversos protagonistas das diversas cenas? Ou não é nada disso?
JM: Só me dei conta disso muitos, muitos anos depois. Até então eu ouvia o que os grupos diziam uns dos outros. Aí acaba a era dos festivais, chegam os anos 1980 e lá estão todos juntos, parceiros, amigos, como eu sempre tinha achado que deveria ser… Mas ninguém sabia nada sobre isso, obviamente eu não comentava com uns o que ouvia dos outros. Houve um tempo, especialmente quando explodiu a tropicália, em que muitas amizades racharam, e não tinha nada a ver piorar a situação com futricas. O inimigo era outro, e logo as pessoas se deram conta disso. Em 1997 lancei um livrinho de memórias chamado Fotografei Você na minha Rolleiflex que conta essas histórias. Nele tem um capítulo chamado “Praia”, que define bem esse momento.
PAS: A maternidade te afastou temporariamente da música? Como você fez para retomar o fio e continuar sendo mãe?
JM: Foi difícil. Eu tinha dispensado a primeira gravadora (Philips, hoje Universal) pra fazer parte da Tribo. E depois (em 1974), quando a EMI dispensou todos os clube-da-esquina (Nelson inclusive), com exceção do Milton, eu por solidariedade pedi dispensa também. Então em 1974 eu estava com duas filhas para criar, sem dinheiro e sem trabalho. Fui salva por Vinicius de Moraes, que já tinha sido meu padrinho artístico, de certa forma, ao escrever o texto de contracapa do meu primeiro LP, em 1968. Ele tinha uma turnê por Uruguai e Argentina no verão de 1975, e Toquinho não podia ir. O show deles se chamava Poeta, Moça e Violão. E ele precisava de uma moça que tocasse violão, pra fazer os dois papéis. Não havia muitas no mercado… Ele me chamou e foi a minha ressurreição na música. Depois, com a volta do Toquinho, viajamos também pela Europa. Foi ótimo. Numa ida com eles à Itália, nasceu o disco Passarinho Urbano (lançado na Itália em 1976 e no Brasil no ano seguinte). Não posso deixar de dar um grande crédito à minha mãe nessa hora, sem ela não teria sido possível. Estava prestes a se aposentar e segurou todas as barras das minhas meninas, Clara e Ana, nessa fase, pra que eu pudesse retomar a carreira – que já era internacional, nesse recomeço. Mais tarde, nos trabalhos que eu fazia (fiz parte, por exemplo, da primeira formação do Academia de Danças, grupo do Egberto Gismonti) elas me acompanhavam, ainda bem pequenas, a tudo. Eram as crianças mais conhecidas da comunidade musical, todo mundo adorava as duas, elas iam a tudo que era show comigo. Mais tarde, quando casei com o Tutty e nasceu minha terceira filha, Mariana, eu já estava com a vida um pouco mais organizada. Mas as duas mais velhas me acompanharam direto nesse recomeço, exceto quando eu precisava viajar. Já com a Mariana foi o contrário, ela viajou bastante com a gente, inclusive pro exterior, sempre que as condições do trabalho eram, digamos, menos inóspitas pra uma criança.
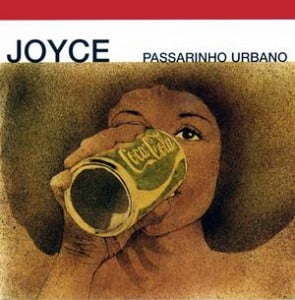
JM: 1975, Roma. Toquinho e Vinicius estouradaços por lá, com um disco que tinham gravado com Ornella Vanoni (La Voglia la Pazzia l’Inconscienza l’Allegria, de 1976), a grande dama da canção italiana da época. O produtor desse disco era Sergio Bardotti, muito ligado à música brasileira até por ser também o versionista oficial do Vinicius e do Chico (Sergio é um dos autores originais do infantil Os Saltimbancos, de 1977). Ele se interessou por mim quando me viu tocar com eles e me propôs gravar um disco bem simples, com o repertório que eu quisesse, para a Fonit Cetra, gravadora especializada no que hoje em dia se chama world music. Fomos pro estúdio, e eu aos poucos fui me dando conta de que estava cantando músicas dos meus amigos então censuradíssimos no Brasil. Se você tem a edição brasileira desse disco, no texto do encarte eu explico tudo isso. O disco acabou ficando com uma cara meio de declaração política, cheguei a levar alguns sustos por causa disso. A indústria musical daqui estava se lixando pra mim. Numa reunião que tive com um executivo da EMI, ele me perguntou se eu preferia “fazer o gênero Nara Leão ou Clara Nunes“… Eu perguntei: que tal um gênero assim meio Joyce? Deu branco. Então a carreira foi tomando esse rumo. O mundo foi me chamando, e eu fui indo.
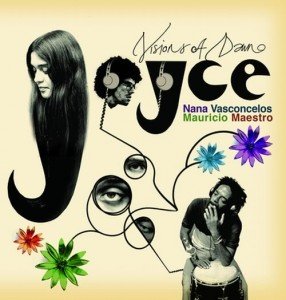
JM: Pois é… Eu, Mauricio e Naná Vasconcelos estávamos em Paris na mesma época. O Naná morando lá, e nós dois, de passagem. Dois dias num estúdio de um amigo do Naná, e foi isso. As músicas eram as mais recentes que tínhamos feito. “Clareana”, “Banana”, “Nacional Kid”, fresquinhas, recém-saídas do forno… (Aliás, você conhece outras gravações do “Nacional Kid”? Tem uma que fiz com Ney Matogrosso no meu disco Tardes Cariocas (de 1984). E o duo Les Étoiles também gravou em Paris…) 30 anos depois o Joe Davis, da Far Out Recordings, ouviu essas gravações e pediu pra licenciar. E assim foi… Esse disco Visions of Dawn era pra sair aqui um dia. Mas veio um convite pra mim e pro Mauricio de irmos pra Nova York em 1977, tocar numa casa noturna que estava inaugurando lá. Nessa viagem, conhecemos o maestro Claus Ogerman, e o Visions acabou servindo de demo pra ele. Fizemos um disco que deveria ser o passaporte pro sonho americano, Natureza, com produção e arranjos de orquestra do Claus e músicas mais novas ainda – estou falando de “Feminina”, “Mistérios” etc. Mas não deu certo, o sócio do Claus foi pra uma gravadora que acabou falindo, e o Claus ficou com esse master até hoje (nesse período, Ogerman seria o arranjador dos álbuns Urubu, de Tom Jobim, em 1976, e Amoroso, em 1977, de João Gilberto). E nunca quis vender, apesar de inúmeras propostas que recebeu…
PAS: Esse master do Claus Ogerman é completamente inédito então? Você já tentou comprá-lo? Gostaria de ver lançado?
JM: Eu adoraria que fosse lançado, mas nem as gravadoras da Europa, do Japão e dos Estados Unidos (mesmo a poderosa Universal) conseguiram nada. Primeiro ele pedia muito dinheiro, depois admitiu que não queria mesmo vender. Duas faixas desse disco saíram, autorizadas por ele: a primeiríssima gravação de “Feminina” (com 11 minutos!) saiu numa compilação chamada A Trip to Brazil (1999), da Universal. E a faixa “Descompassadamente” saiu na caixa de quatro CDs dele, Claus Ogerman, a Man and his Music (2004). Nas liner notes da caixa ele comenta sobre mim, muito generosamente.
PAS: Queria ouvir você falar, pontualmente, sobre a letra de “Nacional Kid” (“Ele é um rapaz brasileiro, brasileiro/ macho, brigador e cabreiro, rapaz brasileiro/ vejam sua história completa, Rio de Janeiro/ sua identidade secreta é brasileiro/ mulher minha não mexe com essas coisas, não/ tem que aprender a obedecer o seu patrão/ que é um rapaz brasileiro, é brasileiro“, diz a letra da faixa de Visions of Dawn). Do que você está falando ali?
JM: Estou falando explicitamente do machismo do homem brasileiro. E adorei quando amigos meus explicitamente gays, como Ney Matogrosso e os queridos da dupla Les Étoiles (que eram o lado musical dos Dzi Croquettes e fizeram grande sucesso em Paris nos anos 1970) abraçaram essa música. Sexismo é racismo sexual. Não tem desculpa. Mas o Brasil é ainda muito conservador nessas questões.

JM: Esse disco foi gravado porque eu criei uma editora musical, a Feminina Edições, pra ter a minha obra toda sob meu controle. Essa editora, nessa primeira fase era administrada, pela EMI. Quando o pessoal começou a ver o volume de gravações de músicas minhas, por Elis, Bethânia, Milton, Nana Caymmi, Ney, etc. etc. etc… Isso representava dinheiro, né? Veio o convite para eu mesma gravar minhas músicas. Mas a gravadora não levava muita fé no projeto. Quando aconteceu o estouro de “Clareana” pra eles foi um susto, ninguém esperava. No dia seguinte ao festival, as rádios recebiam telefonemas dos ouvintes pedindo a música, e ninguém tinha o disco. Foi incrível, sucesso espontâneo mesmo. Engraçado é que houve quem achasse que o disco se chamava ‘Feminina’ como uma espécie de resposta à grande presença de cantoras lésbicas na MPB naquele momento. Fiquei mal com isso, várias eram minhas amigas e intérpretes. Mas as pessoas às vezes aparecem com ideias ridículas mesmo.
PAS: Olhando em retrospecto, o projeto “feminino” deu certo, ou ficou pelas beiradas da indústria fonográfica? Foram dois LPs na EMI e aí você virou “independente”, numa época em que isso não era muito comum, não foi isso?
JM: Deu muito certo, até o momento em que bati de frente com a gravadora numa questão em que eu estava coberta de razão – causa ganha –, e por causa disso enfrentei anos de boicote na indústria fonográfica brasileira. Não gosto de falar nesse assunto, já se passaram mais de 30 anos e a vida tomou seu rumo. Mas era para minha carreira ter acabado ali. Por conta dessa situação, acabei gravando o Tardes Cariocas, meu primeiro disco independente (de 1984). Nesse momento, justamente, as portas do mercado internacional se abrem pra mim, primeiro com um convite para participar do Yamaha Festival em Tóquio, e depois com convites para apresentações na Europa. O caminho se modifica a partir daí.
PAS: Você não gosta de falar no assunto de boicote, mas só faço uma pergunta: estaríamos, aqui, falando sobre machismo e misoginia?…
JM: Não. Estamos falando de indústria, capitalismo selvagem e algumas atitudes e pessoas que ajudaram a enterrar a indústria do disco.
PAS: Vasculhando pelo período entre você-antes-de-você e você-depois-de-você, encontro músicas suas gravadas por Marisa Gata Mansa, Simone, Wanderléa, Norma Bengell, Elis, Bethânia, Joanna, Quarteto em Cy, Fafá de Belém, Nana Caymmi, Zizi Possi, Elizeth Cardoso, Gal Costa – e Milton Nascimento, e Ney Matogrosso, e Emílio Santiago. É quase uma coisa meninos pra lá, meninas pra cá, né? Por que cantores homens que também são compositores não gravavam Joyce (ou mulheres em geral)?
JM: Não sei, o Milton me gravou… Acho que os outros não são intérpretes, são basicamente autores, por isso privilegiam a própria obra. Mas meus parceiros compositores têm me gravado bastante nos discos deles, colocando nossas parcerias – Edu Lobo, Marcos Valle, Zé Renato…

JM: Foi um convite do selo SBK, hoje comprado pela EMI (olha ela de novo…). Eram os 60 anos do Tom, e eu quis homenagear o mestre de toda a minha geração. E ele adorou e até escreveu um lindo texto de contracapa (tem no meu website). Como esse disco vendeu bem, o selo pediu um volume 2. Pra não me repetir, optei por gravar Vinicius.
PAS: Fazendo um pulo até 1998, você então grava um disco, Astronauta, cujo subtítulo é Canções DE Elis – canções todas escritas por homens (exceto uma… sua), que a não-compositora Elis tornou autorais e que você reinterpreta para reinterpretar Elis. Muitos jogos de espelhos, não? É tudo na intuição, ou você sabia que estava fazendo essas declarações todas? Alguém percebia?
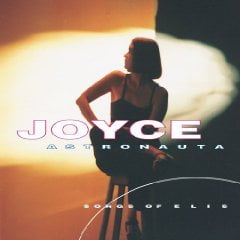
[ A esta altura do pingue-pongue por e-mail, Joyce avisa que está de partida para o Japão, onde trabalhará por três semanas. Avisa que responderá de forma sucinta por falta de tempo.]
PAS: Dos anos 1990 em diante, acontece uma coisa que talvez você tenha em comum com seu parceiro João Donato: sua produção discográfíca se torna abundante, profusa e profícua. Por que isso aconteceu? Era para ter sido sempre assim, desde o início?
JM: Não sou aquele tipo de artista que faz birra pra trabalhar, pra o público pensar que um disco a cada cinco ou seis anos é um favor feito a nós. Não mesmo. Adoro gravar, cantar, tocar, compor, criar, vivo tendo ideias… Pra mim, na música, nunca tem tempo ruim. Quero sempre. E sou paga pra isso, pode ser melhor?
PAS: Nos últimos anos você aprofunda também uma prática que já foi mais importante para a MPB como um todo, em décadas passadas, a dos discos de parceria, com Toninho Horta, João Donato, Tutty Moreno, Dori Caymmi. O que eles significam para você? O que determina quem serão os parceiros desses discos?
JM: O que determina é a afinidade musical, amizade, respeito mútuo. Eu sou gregária, gosto de reunir gente.
PAS: Como explicar a afinidade de japoneses e europeus pela sua obra cada vez maior desse período em diante? O que os estrangeiros ouvem em você que alguns (muitos) brasileiros são mais vagarosos para ouvir?
JM: Primeiro, eu acho que o Brasil de fato não conhece o Brasil. Conhece, engole o que é servido na marmita cultural que as rádios e TVs oferecem, e que não dá nem uma cesta básica. Depois, o pessoal do hemisfério norte tem os ouvidos mais abertos, mais treinados, tem uma informação musical que aqui às vezes não chega. Então se você faz um trabalho que parece simples, mas tem lá sua sofisticação, eles adoram.


JM: “Hard bossa” foi como um jornalista americano, Gerald Seligman, definiu o que eu faço: pra ele, uma espécie de bossa nova, mas com mais vigor, mais energia… “Slow music” foi um conceito que eu inventei, baseada na ideia da slow food. No fundo, tudo é samba, e qualquer maneira de amor vale a pena.
PAS: Ainda sobre Hard Bossa (álbum lançado em 1999 pelo selo inglês Far Out e até hoje inédito no Brasil), tem essa “Zoeira”, que eu chamaria de “canção de raiva” e conforta quem, como eu, às vezes fica meio oprimido com o excesso de sentimentos positivos na música popular brasileira… Você pode contar um pouco sobre ela?
JM: Paulo César Pinheiro. Esse é o cara. Ele sacou nessa melodia que mandei pra ele essa bronca, e botou tudo na letra.
PAS: É muito, muito, muito assunto, fico aqui perdido sobre o que escolher para falar sobre este ou aquele disco. Gostaria de falar sobre o novo, sem saber por onde começar. Pediria, provavelmente, para você comentar “Quero Ouvir João” (ninguém ouve nada não?…)… Mas gostaria de saber também o que você elegeria comentar sobre esse disco…
JM: Ih, agora é muita coisa… Pode ser depois?
(…a continuar…)







Pedro queria pedir que por favor se der nos ajude a divulgar o absurdo que o vocalista da banda querosene jacaré falou durante importante festival de inverno de Garanhuns PE. Ele disse o seguinte” Só respeitem mulheres grávidas, nas outras podem meter o dedo no parreco, elas querem dar. Pode meter o dedo, que todo mundo que foder. Ainda bem que as feminista daqui se manifestaram,só que é preciso que esse canalha seja punido.
Parabéns excelente entrevista!
Obrigado, Gilson!
Que ótima entrevista! De certa forma complementa a leitura de “fotografei vc na minha Rolleyflex” que comprei no Estante Virtual. Gosto demais de saber essas histórias da música, e vc, junto com zuza, ruy castro, rodrigo faour, julio maria, entre outros, sao meus amores nessa coisa toda. Obrigada!