O cantor e compositor pernambucano lança “Solo Contigo” e fala da prisão e da tortura pela ditadura brasileira, em 1969 e 1974

“A gente saiu da maior glória para a clandestinidade.” O pernambucano Geraldo Azevedo jamais foi um propagandista das agruras que sofreu junto à ditadura civil-militar de 1964, mas história para contar não lhe falta. Estava com Geraldo Vandré em excursão pelo Centro-Oeste quando foi promulgado o Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968. O grupo, chamado Quarteto Livre, era composto por ele, Naná Vasconcelos, Franklin da Flauta e Nelson Angelo, e morreu (ou melhor, clandestinizou-se) com o nascimento do AI-5.
Em entrevista exclusiva para Farofafá/CartaCapital, o autor de “Canção da Despedida” (1968), “Novena”, “Talismã” (1972), “Caravana” (1975), “Bicho de 7 Cabeças”, “Táxi Lunar” (1977), Dia Branco, “Canta Coração”, “Moça Bonita” (1981) e “Dona da Minha Cabeça” (1986), entre muitas outras, conta detalhes que costuma resguardar, sobre as duas longas sessões de tortura a que foi submetido, em 1969 e em 1974. Nos 41 dias da primeira prisão, revela, cantava coisas de Vandré na cela, sem ser importunado pelos policiais.
Episódios como esses e o fato de ser pernambucano ribeirinho nascido às margens do rio São Francisco o aproximam do Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva em desfavor do Brasil distópico de Jair Bolsonaro e do general Hamilton Mourão. Lançando o DVD e CD ao vivo Solo Contigo e sempre em atividade com O Grande Encontro (com Alceu Valença e Elba Ramalho), Geraldo Azevedo milita na resistência, na resiliência, na sobrevivência. “O medo é imprescindível. É através do medo que a gente cria recursos de vencê-lo”, afirma, sobre a volta, em 2019, de sentimentos que imaginávamos definitivamente afastados. Segue a entrevista completa, transcrita e em vídeo (ao final).
Pedro Alexandre Sanches: Gostaria de começar perguntando sobre sua relação com o rio São Francisco.
Geraldo Azevedo: É a minha veia.
PAS: É onde você nasceu.
GA: Embora seja uma veia da Terra, é a veia que passa pelo meu coração. Aquele rio pra mim simboliza tudo: a relação com a Terra, com a vida da Terra, com esse ser que é a Terra. Aquela veia ali está sendo ameaçada, pode ter um infarto.
PAS: Você nasceu em Petrolina, na região rural, certo?
GA: É, no Jatobá, na beira do rio. A gente morava na casa, em frente da casa a roça. A distância do rio era simplesmente relativa às enchentes que aconteciam no rio. As águas chegavam até perto da casa da gente. Assisti três enchentes da água chegar perto. Aquela casa foi construída pelo meu avô. Antes era mais perto do rio, e teve uma enchente que avançou na casa, teve que recuar mais um pouquinho. A roça ia até à beira do rio. A gente ia buscar água no rio. Meu pai era pedreiro e fez uns barris que a gente botava em cima do jegue, ou ia buscar de galão.
PAS: Pode-se chamar você de ribeirinho?
GA: Pode não, eu sou ribeirinho. Nasci lá, tenho maior orgulho. Olha, só vim a conhecer um chuveiro depois de 13 anos de idade. Tomava banho no rio. Ou então na bacia. Quando era criança a gente tomava banho de bacia, com a cuiazinha assim.
PAS: E como da roça você vai parar nos palcos da MPB?
GA: Pois é. Eu fico vendo o contraste. Lá não existia nem luz elétrica. Não tinha nem caminho pra chegar um carro. Ficava distante da cidade sete quilômetros. Hoje a cidade cresceu muito. Saí de lá com 20 mil habitantes, hoje tem 380 mil, quase 400 mil.
PAS: Você mantém relação com Petrolina, ou não?
GA: Mantenho, mantenho, sim. A cidade cresceu muito. O lugar que nasci, que era rural, passou a ser urbano. Fui até homenageado alguns anos atrás, botaram os nomes das ruas do lugar onde nasci em relação à minha obra, então tem rua Dia Branco, rua Berekekê, rua Correnteza, rua Táxi Lunar, rua Moça Bonita, beco Dia Branco. Tem até uma avenida Geraldo Azevedo. Tem um bocado de música lá. Tudo foi habitado por pessoas que foram chegando, muita gente não nasceu lá. Quando fiz meu primeiro DVD, fomos filmar as placas. Não tinha nenhuma placa. Cadê as placas? “Ah, doutor, os caras roubaram”, nem sabiam que eu era Geraldo Azevedo, “as ruas aqui são do artista, neguinho roubou as placas”.
PAS: Como é ter uma rua com seu nome?
GA: Depois até teve uma lei que proibiu homenagear pessoas vivas. É interessante, a gente sabe que a trajetória da gente faz parte de uma memória. Não dá pra negar, são muitas músicas. Não é a gente, é a obra da gente. A gente sabe que muitas canções embalaram muitas gerações. A gente sabe porque as manifestações são muito generosas. Isso é gratificante, ainda mais neste mundo atual digital, que todo mundo quer registrar com fotografia. Alceu Valença se perturba muito com esse negócio de muita fotografia.
PAS: Você não?
GA: Eu sou mais benevolente, mas tem horas que realmente é uma invasão muito grande de privacidade. E hoje, com este mundo intolerante na internet, está perigoso. Existe uma coisa meio sem ética das pessoas, você está em algum lugar e tem alguém filmando. A gente vive naquele mundo que George Orwell falava. Mas é pra todo mundo, agora existe essa democracia na internet.
PAS: Da roça, um dia, Geraldo Azevedo teve uma primeira canção gravada por Teca Calazans. Qual foi essa trajetória?
GA: Primeiro, quando eu morava na roça, minha casa era uma escola. Minha mãe era professora, da alfabetização até a cartilha. Depois tinha que ir pra escola pública, e eu ia todo dia de jegue. Tinha uma tia, a gente deixava o jegue, o nosso transporte, na casa dessa tia. Naquele tempo, menino usava calça curta e rapazinho usava calça comprida. Quando entrei no ginásio, usei minha primeira calça comprida na vida, calça branca, um calor absurdo nas pernas. Aí pedi a minha mãe pra ficar na casa de tia Santa, pra ficar lá estudando. Sempre desenhei também, gostava muito de desenhar. Aí minha mãe deixou eu morar na casa de minha tia, já na cidade. Eram sete quilômetros, a gente ia ou de jegue, um pouco mais confortável, ou a pé, que dava mais de uma hora de caminhada. Fui ficando lá e ouvindo mais outros tipos de música. Em casa a gente tinha uma ligação muito forte com música, porque minha mãe cantava, meu pai tocava, chegou a fazer um violão pra mim. Era muito habilidoso com a mão, carpinteiro, marceneiro. E na cidade já comecei a me inteirar, a ouvir no rádio Angela Maria, Cauby Peixoto… Eu já tocava violão, aquelas coisas de Nelson Gonçalves, a gente chamava violão pé duro.
PAS: Coisas regionais não?
GA: Sim. Minha mãe tinha uma novena que era toda musical, ladainha, pai nosso… Era cantadeira, também botava os alunos pra cantar na escola. Nos 15 pra 16 anos, quando cheguei na cidade, surgiu a bossa nova. Aquilo foi um estímulo, aquilo me conquistou muito. Se não fosse a bossa nova, eu não seria o artista que sou.
PAS: Dos cantores nordestinos da sua geração, você é o que aparenta ser mais próximo da bossa, no modo de cantar. Os outros são mais agrestes, mais ásperos.
GA: Pois é. São mais influenciados pelo galope e pelo rock, né? Eu sou pela bossa e pela seresta. Mas também tenho ligação com violeiros, os cantadores, improvisadores, repentistas. E também Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga. A gente nem dava tanto valor, vim dar quando vim pro Sul. Pra gente lá era a música da região. Deu outra visão, nunca imaginei que eu ia valorizar tanto o aboio, aquele lamento do sertanejo, do cara do mato mesmo. Me lembro que na época que comecei a descobrir a bossa nova queria seguir Tom Jobim, Sylvinha Telles… Era muito raro chegar lá. Qualquer pessoa que tivesse disco em casa eu ia na vitrola deles. Me lembro do primeiro disco de Roberto Carlos, ele cantava bossa nova também.
PAS: Você ouviu na época?
GA: Na época. Tinha até uma bossa nova de Ataulfo Alves e Carlos Imperial.
PAS: Então, além de João Gilberto, Roberto Carlos era uma influência inicial para você?
GA: Era, porque eu achava que Roberto Carlos tinha influência de João Gilberto também. Mas não tinha tanta riqueza quanto os arranjos de Tom Jobim. Não tinha a sutileza. O que me encantava também era ir pro cinema, as trilhas sonoras de Hollywood. Aquelas orquestrações eram um encantamento. Minha tia reclamava que eu só ficava no violão, eu nem tinha a noção de que aquilo ali era um estudo. Estudei sem saber que estudava, mas autodidaticamente. Até que viajei pra Recife, com 18 anos, porque em Petrolina só tinha até o ginásio. Hoje tem muita universidade.
PAS: Recife já devia ser algo totalmente diferente do que você estava acostumado até então, ou não?
GA: Claro, é. Mas tinha a convivência do colégio, do cinema também, já fui pra Recife com essa orientação. Fui pro colégio público pra fazer o científico, e lá no colégio tinha aquele movimento de diretório. Entrei no diretório, na parte cultural, comecei a fazer show no colégio. Os shows começaram a minar dentro do Recife, olha como a coisa ecoa. “O pessoal quer conhecer você, você toca bossa nova.” Ninguém tocava, a bossa nova era novidade. Aí fui encontrar Teca Calazans, Naná Vasconcelos, Marcelo Melo, que hoje é do Quinteto Violado. Vim a conhecer outras pessoas, a me entrosar. No final terminei formando um grupo, Grupo Raiz. Cheguei até a ter um programa de televisão.
PAS: O nome é interessante, talvez você nem soubesse, mas já estava olhando para sua raiz.
GA: Pois é, exatamente. Porque, também, cheguei em Recife com a bossa nova, mas a bossa nova já estava passada para outro tipo de música, que chamavam música de protesto, que tinha uma ligação muito grande com a cultura regional. Tanto é que em Recife comecei a tomar conhecimento de vários folclores, de que eu não tinha de noção. Conheci a Banda de Pífanos de Caruaru, os cirandeiros. No programa de televisão levei cirandeiros, banda de pífanos, repentistas, coco.
PAS: Aí já entra uma influência da cultura estudantil daquele momento, que era muito de esquerda, muito combativa, não?
GA: Era. Tinha até apoio da Madalena Arraes. A gente tinha reunião com ela, ela incentivava a gente. E Teca Calazans era uma pesquisadora incrível. Pesquisou muito folclore. Aí conheci Carlos Fernando, que fazia teatro. “Rapaz, você escreve muito bem, faça uma letra de música.” Ele escreveu a primeira letra de música pra mim, chamada “Aquela Rosa”, que mandamos pra festival, e ganhamos.
PAS: Ela não está em nenhum de seus discos, está?
GA: Nunca gravei. Mas já fiz o arranjo, estou gravando um disco de frevos, vou gravar. “Aquela Rosa” está incluída. Mas ela tem muitas gravações. Começou com Teca Calazans, depois Eliana Pittman.
PAS: Em seguida você trabalhou com Eliana. Foi ela que te trouxe pro Sul?
GA: Exatamente. Quando eu estava fazendo esse programa de televisão, todo fim de semana tinha uma atração nacional, uma “noite de gala”. E levaram Booker Pittman e Eliana Pittman. Ela me viu, depois saiu na noite e eu tocava no bar Aroeira, que ficava atrás do Teatro Popular do Nordeste, de Hermilo Borba Filho. Eu não tinha muitas composições, assistia O Fino da Bossa, Esta Noite Se Improvisa, com o gravador ligado, porque sempre lançavam uma música nova. Chico Buarque cantava “Pedro Pedreiro”, eu gravava e cantava no bar. “Quem é Chico?”, ninguém nem sabia. Pro programa de televisão eu fazia uma pesquisa maior, procurava Cartola, Mestre Pastinha, Monsueto Menezes.
PAS: Isso é muito bonito, você está falando que ouvia “Pedro Pedreiro”, tirava e tocava na noite em Recife, quando a música era novinha em folha?
GA: Oxente! Novinha, nem tinha saído em disco ainda. Chico, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Edu Lobo iam na televisão, eu gravava, aprendia e tocava.
PAS: Sem imaginar que logo você estaria lá no meio deles?
GA: Nem imaginava, nunca. Tudo isso eu fazia sem noção nenhuma de que minha vida seria da música. E fazia com amor. Amava cantar, amo. Gostava de tocar, sempre gostei de tocar. Tenho até um defeito físico, uma escoliose, de tanto tocar. Eu estava em Recife pra fazer vestibular e queria me formar.
PAS: Fez arquitetura.
GA: Meu sonho era me formar em arquitetura ou engenharia. Mas a música foi mais forte. Com essa coisa de Eliana ter me visto na televisão e na noite, logo que ela voltou pro Rio de Janeiro o pai dela, que já tinha aquela rouquidão, teve um problema sério de garganta e não podia cantar. O Aurimar Rocha, que tinha um teatro no Rio de Janeiro, achava que Eliana Pittman tinha que ter uma carreira solo e ofereceu pra ela o teatro. E ela, por ter formação americana, pensou em fazer um show especial com convidados. Ela disse que a primeira pessoa em que pensou foi aquele magrelo do Recife. Aí insistiram que eu tinha que ir para o Rio de Janeiro. Booker Pittman me ligava, eu dizia “rapaz, quero ficar aqui, vou fazer vestibular”. Nesse tempo eu desenhava. Trabalhava, fazia tudo isso, mas não ganhava nada. Música não dava muito dinheiro. Eu trabalhava com desenho, num escritório. Eliana ligava, Teca e Naná ficavam indignados que eu não queria ir. Só sei que eles se juntaram e compraram a passagem. “Você vai.” Saíram, compraram um enxovalzinho pra mim, três camisas, duas calças, me empurraram, me botaram no avião. Nunca tinha entrado num avião. Cheguei dois dias antes da estreia. Eliana e a mãe estavam me esperando no aeroporto. Me levou direto pro teatro pra gente ensaiar.
PAS: Aí você ficou tocando com ela um tempo?
GA: Quase um ano.
PAS: E aí ficou no Rio?
GA: Fiquei no Rio. Naquele tempo era temporada grande, de quarta a domingo. Passamos uns três meses no teatro de Aurimar Rocha e depois fomos pro teatro do Copacabana Palace. Eliana Pittman era uma estrela, era um sucesso. Conheci Di Cavalcanti, Celso Furtado, todos nos camarins, porque iam pro show dela.
PAS: Sempre me perguntei por que nos primeiros discos dela tinham vários autores nordestinos. A ponte era você?
GA: Pois é, apresentei músicas de gente de lá, Marcus Vinícius de Andrade. Aquilo ali ficou, e eu só pensava em voltar pra Recife. Mas foi uma ligação muito grande, fiquei muito amigo de Milton Nascimento, Marcos Valle, aquele pessoal que vivia ali em volta do teatro. Eliana cantou “Viola Enluarada” antes de ser lançada. Cantava “Travessia”, que tinha acontecido no festival. E eu estou lá, a música minha ficou no festival e eu vim embora. Um dia Milton chegou, “vamos celebrar!, está aqui, você ganhou o festival!”. Foi o Milton Nascimento que veio me informar, cara, que eu tinha ganho o festival. É uma coisa que não posso esquecer nunca. Tenho muita gratidão a Eliana Pittman, mas a gente ficava com um pé atrás em relação aos americanos, e ela gostava de cantar música americana pra caramba. Tinha uma formação americana, e a gente ficava sempre…
PAS: Aquele conflito básico da época…
GA: Aquele conflito. Eu queria música brasileira, queria fazer cultura brasileira. Na segunda temporada eu me afastei um pouco, Naná e Teca já tinham chegado do Recife. Eu e Teca dividimos apartamento.
PAS: Foi aí que você conheceu Geraldo Vandré, ou já conhecia antes?
GA: Foi nesse ano, quando Vandré teve aquele apogeu no Festival Internacional da Canção. Embora não tenha ganho o festival, foi o grande vencedor. Foi aí que ele resolveu fazer uma temporada de “Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores” e estava procurando músicos. Formamos um grupo, eu, Naná, Franklin da Flauta e Nelson Angelo, o Quarteto Livre.
PAS: Então o Quarteto Livre vem depois do Quarteto Novo?
GA: Foi inspirado no Quarteto Novo.
PAS: Que era um grande grupo, maravilhoso.
GA: Maravilhoso. Aquilo ali foi uma influência muito forte, até porque tinha essa coisa da raiz, mas com uma evolução muito grande, músicas alteradas, 7 por 8, 7 por 4… Eu já estava me aprimorando também, tanto que hoje em dia tenho muita coisa em 7 por 4, como “Caravana”, 5 por 8, essas coisas todas.
PAS: Estou pensando agora que você então é uma mistura de João Gilberto com Roberto Carlos e Quarteto Novo.
GA: (Ri.) Não, sempre admirei Roberto Carlos, a voz dele, mas foi outro caminho. Pra mim ele ficou um pouco piegas.
PAS: Mas é um bom cantor, né?
GA: Bom cantor, maravilhoso, tem uma história incrível. Mas ele foi ficando bem piegas. Não tinha essa verve da brasilidade. Uma coisa de carreirismo, sabe? Isso não condiz muito, não, né? Na vida da gente a gente se depara com muitos artistas que têm essa coisa assim. Eu sempre acho que essa vaidade e esse ego que os artistas têm são complicados. Tem que se benzer pra não adquirir esse tipo de comportamento. O sucesso às vezes entra na pessoa de uma maneira que a pessoa não absorve de uma maneira positiva, começa a ficar prepotente. Eu tenho uma carreira muito lenta, devagarzinho, de forma que dê tempo sempre a eu elaborar a minha humildade, pra não me arvorar e ter esse tipo de comportamento. Eu sou um eterno aprendiz.
PAS: Então você vai tocar com Vandré depois de “Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores”, num momento já conturbado politicamente pra ele?
GA: Foi. Durou muito pouco a nossa convivência, exatamente por causa desse momento político difícil do Brasil. Eu sempre acho que essa canção é um dos pingos d’água pra criar o AI-5. Ela foi o pingo, porque pra eles foi uma provocação, “há soldados armados amados ou não”, aquela coisa atingiu de uma maneira muito forte. Vandré tinha essa verve. Naná dizia “esse cara quer ser o Che Guevara do Brasil”. Vandré sempre foi uma pessoa estourada, mas era filho de um comunista, de uma formação assim. Ao mesmo tempo, ele tinha esse lado às vezes prepotente e arrogante. Ele sempre denotou um comportamento, vamos dizer, fora do normal. Provavelmente deu no que deu, hoje é uma pessoa complicada emocionalmente. Naquele tempo se detonava um pouco isso. Nós saímos em turnê, tocamos em vários lugares, fizemos Goiânia, Anápolis e íamos pra Brasília. No dia que ia ter o show de Brasília foi que estourou o AI-5. A casa dele já tinha sido invadida, a casa do pai dele, a casa da tia dele.
PAS: Ele teria sido preso naquele dia, se eles o achassem?
GA: Ele ia ser preso. A gente saiu do maior sucesso, da maior glória, pra clandestinidade.
PAS: Ele e os músicos junto?
GA: Os músicos junto. Ele desapareceu pro Uruguai, eu voltei pro Rio de Janeiro.
PAS: A “Canção da Despedida” nasce nesse momento?
GA: Nessa turnê a gente tinha dado o princípio nela. É incrível. Esse “já vou embora” já existia antes de ele ir embora. Mas, quando ele estava na clandestinidade já, hospedado na casa da mulher de Guimarães Rosa, em Copacabana, ele entrou em contato comigo, mandou me buscar. Esse tempo era tão paranoico que era assim: alguém me pegava, levava pra outro lugar, trocava de carro, pra poder chegar até a casa dele, porque ele tinha medo de ser seguido. Era meio paranoico aquele tempo. A gente tinha medo de jogar papel no chão e alguém vir ver o que era. Vivia em pânico. A gente morava na região de Laranjeiras, onde era o cinema Paissandu, onde se agregavam Glauber Rocha e os cineastas do Cinema Novo, e a ditadura pensava que qualquer lugar em que sentassem cinco pessoas já era reunião de terrorismo. Todo mundo tinha medo de sentar em bar. Fui pra casa de Guimarães Rosa, chegando lá começamos a terminar a música.
PAS: Foi com esse objetivo?
GA: Com esse objetivo. E também porque eu era diretor musical de Vandré, daquele grupo, e tudo era comigo. Tanto que ele queria que eu viajasse com ele pro Chile, pra Paris. Eu que nunca quis sair do Brasil. Aí já começou a dar outra conotação no “já vou embora”, ele tinha que ir embora mesmo. Era Artur da Costa e Silva, e era o “rei mal coroado”. A gente botou na música por causa disso, por causa do nome Artur, o rei mal coroado. Saiu dali e fomos pra casa de Marisa Urban, numa chácara que existia na Barra, que era só mato, terminamos a música lá.
PAS: Mas ela só foi ser gravada muito tempo depois? Pela Elba Ramalho?
GA: Pela Elba. Amelinha tentou gravar. Quando Vandré voltou, ele falou: “Vandré não existe, Vandré é ficção. Ele só vai voltar a existir se a Constituição mudar”, fantasia dele. Já tava naquela coisa, tem dia que estava lúcido, tem dia que estava… parado, e tal. Ele não liberava a música no nome dele de jeito nenhum. Aí Amelinha não quis gravar. A gente não sabia o que fazer, porque a música era com ele, e ele não dava autorização do nome. Aí eu morava com Elba e ela quis gravar, e voltamos a falar com Vandré. Mesma coisa, ele dizendo que Vandré não existia. Realmente, Vandré é um sobrenome que ele criou, baseado no pai dele, José Vandregíselo. Ele disse: “Grava só como sua”. Mas eu não fiz a letra, nesse tempo eu nem escrevia letra. Tinha escrito algumas, mas pra teatro, e tal. Aí me veio um insight, não vou deixar essa música. Sugeri a Elba que gravasse e a gente colocasse autores Geraldo Azevedo e Geraldo. Pode reparar, no primeiro disco (Coração Brasileiro, de 1983) está assim.
PAS: E ele não reclamou?
GA: Anos depois ele reclamou porque não botou o nome dele (risos).
PAS: E quando você revelou que esse Geraldo era Vandré?
GA: Quando eu gravei meu disco A Luz do Solo (1985), coloquei Geraldo Vandré. Mas quem gravou primeiro essa música foi ele, num disco chamado Canções de Benvirá (na verdade Das Terras de Benvirá, 1973).
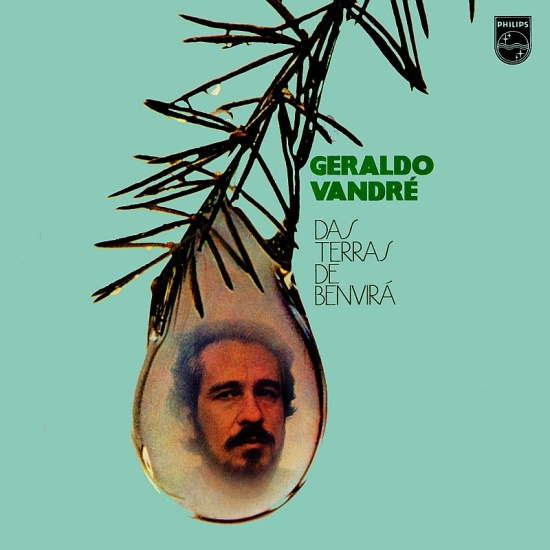
PAS: Mas não tem essa música no disco…
GA: Quando chegou no Brasil, foi vetado o fonograma pela Censura, e tiraram a música. Mas eu cheguei a ter essa gravação de Vandré, quem acompanha é Marcelo Melo, que fez esse disco com ele. Ele colocou lá Geraldo Vandré e Geraldo Azevedo. Depois ele fez declarações sobre parceiros fictícios que ficam famosos usando o nome dele (ri). Já teve essa declaração dele. E agora eu quis gravar no DVD novo e não consegui a liberação dele. A música continua sendo censurada.
PAS: Nesse contexto você foi preso pela primeira vez?
GA: Foi um ano depois.
PAS: Por quê? Pelo jeito você tinha atividades políticas além das musicais…
GA: Olha, eu tinha alguma ligação com pessoas que faziam trabalho, gente da AP. Mas eu nunca me envolvi. Mas fui simpatizante. Cheguei a desenhar num jornalzinho clandestino, fazer quadrinhos. O jornal chamava A Voz do Morro. Era aquele tempo que estavam querendo tirar as favelas pra botar, sei lá, na Cidade de Deus, e a gente tinha uma campanha com o Morro dos Prazeres pra não deixar. Conseguiram tirar a Catacumba. Era clandestino, eu fui torturado por causa desse jornal. Mas fui preso por causa de outras pessoas. Estava ligado com essas pessoas, me levaram junto. Uma das pessoas foi torturada e disse, “foi ele que desenhou”.
PAS: O Vandré ficou esquisitão, você podia ter ficado também… Sofrimento não faltou.
GA: Não sei qual foi a relação do Vandré com a prisão. Sei que quando voltou ele foi detido. Alguma coisa aconteceu. Tentei falar com ele sobre isso, “não quero falar sobre isso”. “Tô falando porque fui preso…”
PAS: Você ficou preso bastante tempo?
GA: 41 dias.
PAS: E foi bastante torturado?
GA: Bastante torturado. Mas quem me salvou foi a música. Eu sempre dizia: “Rapaz, eu não tenho nada a ver com isso, não. Posso ter ajudado as pessoas, mas na intenção de usar minha arte. Sou artista, sou músico”. Depois de 20 dias na solitária me trouxeram pra ser interrogado, me bateram e tal. A menina pediu perdão depois por ter entregado, mas ela estava toda violentada. Eu dizia: “Eu sou artista, eu sou músico”. Disseram: “Traga o violão. Quero ver se ele é músico mesmo”. Esse torturador, que vi matar gente, que me torturou pra caramba, na hora que eu comecei a tocar ele… se derreteu.
PAS: O que você tocou? Lembra?
GA: Rapaz, na hora que peguei eu toquei logo uma coisa de Bach. Aí ele perguntou: “Você toca ‘Yesterday’?” (ri). Não toco, não, mas toquei. “Cara, o cara toca mesmo!” Daqui a pouco aquela sala de interrogatório estava cheia de gente, oficiais, pra ver eu tocar. Daí mesmo eu voltei pra solitária, no mesmo dia me colocaram numa cela coletiva, e me deixaram o violão. Fiquei tocando lá, ensaiei vocal de seresta com meus colegas de cela, “vamos cantar pra todo mundo ouvir”. Também cantava muita música de Vandré.
PAS: Não dava problema?
GA: Não. Nunca me proibiram de cantar música dele.
PAS: Dentro da prisão cantando Vandré!
GA: Teve um dia que o sargento chegou e disse assim: “Comandante está sabendo que você toca, e ele vai fazer aniversário e quer que você vá tocar”. “Companheiro, eu não vou, não. Só se vocês me libertarem. Preso eu não toco, não.” Aí o sargento, gente fina pra caramba: “Rapaz, não faz isso, não, está muito bom pra você, acho que vai ser solto, não tem nada contra você”. Mas tocar preso, eu não tocava, não. Eu estava numa cela com dois guerrilheiros, eles inventaram uma maneira… A gente tinha um método de baixar enfermaria. Pra me livrar desse negócio eu topo, prepararam pra fazer uma febre alta. O aniversário era amanhã, eu fazia esse negócio hoje, baixava febre amanhã. Quando chegou de noite o cara disse: “Olha, você escapou, comandante resolveu passar o aniversário na casa de alguém”. Me salvei em baixar febre e também em tocar. Passaram uns dias, umas duas semanas, disseram: “Você vai ser libertado”. Trouxeram a roupa que eu tinha sido preso, nunca me esqueço, era uma camisa amarela e uma calça jeans. Tô sendo libertado mesmo? Tô. Quando cheguei lá fora, disseram: “Soube que você só toca livre. Você está livre, mas vai tocar pra gente”. Tive que tocar na frente dos oficiais. E com medo de não ser libertado. Mas depois me soltaram.
PAS: Geraldo, nesse momento muitos foram se exilar. É compreensível, por não querer ou conseguir passar pelo mesmo sofrimento. Mas você ficou, né?
GA: As pessoas foram exiladas porque foram obrigadas, Gil, Caetano. Não foi uma coisa de escolha. Eu nunca fui ameaçado com exílio.
PAS: Mas você não pensou em ir embora?
GA: Nunca pensei. Nunca pensei em deixar o Brasil. Já viajei muito fazendo show, mas nunca tive esse encantamento de sair do Brasil. Eu gosto de tocar no Brasil.
PAS: Mas devia estar bem ruim de tocar naquele momento…
GA: Até voltei pro desenho. Saí da cadeia, não tinha mais espaço. Com que eu iria trabalhar? Eu ainda não tinha um material meu mesmo, estava fazendo. A primeira coisa era voltar pro desenho. Fui, me inscrevi, ganhei um emprego, em seis meses já fui promovido. Foi muito bom, eu tinha muito esse lado da arte do desenho.
PAS: Mas aí passa um tempinho e aparece esta maravilha que é o disco Alceu Valença & Geraldo Azevedo (1972).
GA: Em 1970 apareceu o Alceu no Rio de Janeiro.
PAS: Você não conhecia ele ainda?
GA: Tinha apresentações minhas que eu via ele nas plateias, você acredita? Ele era uma pessoa tão marcante que eu lembrava dele. Vi várias vezes Alceu sozinho assistindo a gente em bar, na noite. Ele acha que esse encontro comigo foi importante pra ele, porque ele tinha o aval meu. Ele já tinha cantado músicas minhas, já tinha cantado “Aquela Rosa” nos Estados Unidos quando foi fazer intercâmbio.
PAS: Este é um dos melhores discos psicodélicos do Brasil. É psicodélico?
GA: Colocaram isso, até saiu na Alemanha um disco de psicodelismo brasileiro com várias faixas desse disco. Eu nunca soube que eu tinha sido psicodélico.
PAS: Isso é por conta dos arranjos do Rogério Duprat?
GA: As orquestrações são dele. Os arranjos todos são meus.
PAS: Por que vocês fizeram esse disco juntos, antes de qualquer um dos dois ter estreado solo?
GA: Naquele tempo tinha as duplas, Antonio Carlos e Jocafi, Tom e Dito. E eu achava também que um apoiava o outro. O Alceu com aquela verve roqueira… Ele não gosta que fale isso não, “nunca fui rock’n’roll”. Mas ele tem essa verve.
PAS: Era roqueiro, sim…
GA: Ele fica danado comigo. Mas ele tinha uma verve roqueira, e de cantar pra fora. Eu tinha aquela coisa da bossa nova, de cantar íntimo. Acho que foi muito boa essa troca. Tanto dei um valor pra ele das harmonias, da conjunção harmônica, quanto ele me deu essa coisa da interpretação pra fora. Eu comecei a cantar um pouco como o Alceu, pra ficar junto dele. Foi muito bom.
PAS: Tem uns momentos de grande delicadeza também, como “Talismã”…
GA: É. E foi assim, a gente tocava sempre junto.
PAS: A ideia de fazer o disco foi de vocês ou foi da gravadora?
GA: A gente classificou três músicas no festival universitário, cujo ganhador foi Belchior, com “Na Hora do Almoço”. A gente estava entre as 12 com as três músicas, uma defendida por um grupo chamado Los Lobos e as outras duas por eu e ele.
PAS: São músicas que estão nesse disco?
GA: Estão, “78 Rotações”, que o arranjo era de Luiz Eça, mas a orquestra não conseguia tocar, uma música que tem muitas alterações de compasso. A outra era “Planetário”. Alguém da gravadora Copacabana estava assistindo o festival e chamou a gente pra lançar. Gravamos aqui em São Paulo, no estúdio da Gazeta, em 18 canais. Leo Peracchi era o diretor artístico.
PAS: Você gosta dele?
GA: Desse disco? Olha, eu gosto, porque é o início de tudo. Mas ainda fico sonhando da gente pegar e recuperar essas músicas… Alceu não tem coragem, não.
PAS: Você faria?
GA: Eu faria um trabalho em cima dessa músicas…
PAS: Alceu Valença, por favor!
GA: (Ri.) Pra ele gravar “Me Dá um Beijo” no Grande Encontro (no terceiro volume, de 2016) foi muito difícil. Mas gravou.
PAS: E o disco era “Quadrafônico”, né?
GA: Era quadrafônico. Isso é uma coisa… Jarbas Passarinho, que era o secretário da educação, mostrou o disco assim na manchete.
PAS: Ele recomendou?
GA: Não, era pra mostrar que o Brasil estava no novo processo quadrafônico. Não era por causa dos artistas.
PAS: Aí demorou mais cinco anos pra afinal chegar no seu primeiro disco solo. Por que a demora?
GA: Eu estava no processo de fazer o filme de Sérgio Ricardo, A Noite do Espantalho (1974).
PAS: Você participa do filme e do disco?
GA: Eu fui o diretor musical. Eu tenho uma herança daquele filme. Eu era assim (indica o rosto liso na capa de Alceu Valença & Geraldo Azevedo, trazido pelo repórter), e o personagem que o Sérgio me deu eu achava que tinha que ter uma barbinha, uma barba por fazer. Eu era Severino, o personagem mais pobre, todo mundo tinha cavalo e eu tinha um jegue. Depois da filmagem resolvi não tirar mais a barba. O filme é um musical, né? Eu fiz a direção musical.
PAS: Na verdade é um disco do Alceu também, embora só leve o nome do Sérgio.
GA: É um disco da gente. É porque Alceu fazia o personagem principal, terminou que era ele na capa.
PAS: E você também participou do Paêbirú (1975)?
GA: Sim, na mesma época. Acho que tenho duas faixas lá.
PAS: Aquele disco é bem louco, bem psicodélico.
GA: O que é que é psicodélico, hein?
PAS: A gente ouve e fica meio maluco. Fica igual o Vandré (risos). Não sei também o que é psicodélico… Na verdade era quem tomava LSD. Mas não necessariamente.
GA: Não tem nada a ver, eu nunca tinha tomado LSD.
PAS: Mas Geraldo, “Caravana” é uma música muito psicodélica.
GA: É mesmo?
PAS: Ela começa de um jeito, depois parece que invade o quarto inteiro onde a gente está.
GA: Pois é, mas é tudo intuição. E você vê, “Caravana” tem influências clássicas, ninguém sabe disso. Quando fiz foi depois que conheci Carmina Burana.
PAS: Que é psicodélico também (risos). Mas voltando, você faz o que no Paêbirú?

GA: Eu lembro que soltei lá dois temas pra gente improvisar em cima. É tudo instrumental as partes que participo. Lula Côrtes e Zé Ramalho é que estão em tudo, eu fiz duas faixas. Foi gravado em Recife, na Rozenblit. Aí nessa época eu já estava botando música em novela. Botei “Caravana” em Gabriela (1975), fiz Saramandaia (1976). Foi na época que fui preso de novo.
PAS: Por quê?
GA: Dessa vez eu não sei. Só sei que invadiram a minha casa. Naquele tempo a gente se reunia no teatro Gláucio Gil, Glauber Rocha, Caetano, José Wilker, Maria Pompeu, a gente ia pra lá, normalmente falar coisas da Censura. Fizemos um abaixo-assinado contra a censura, me deram pra pegar assinatura, peguei de Tom Jobim, Otto Maria Carpeaux, um bocado de gente. Eles pegaram esse documento, e me levaram. Invadiram a minha casa. Me pegaram, me sequestraram, encapuzaram na mesma hora. Aí foi muito mais violenta. Tinha dois caras comigo, um que depois conheci pelo nome, Gildásio, cunhado de Henfil, estava do meu lado. E do outro lado estava sendo torturado um cara chamado Armando Frutuoso, ele foi mais torturado que nós dois, e mataram ele, na mesma hora. Aliviaram pra gente. Eu sou testemunha auditiva, porque estava com capuz. Veio uma pessoa e deu esporro porque tinham matado, era um cara importante, podia dar informação. Foi barra pesada, mas até que me aliviaram.
PAS: Nessa vez você ficou quantos dias?
GA: Eu fiquei no DOI-Codi uns quatro dias. Não tenho muita noção, não. Depois me mandaram pro Dops, e fui libertado. Foi nesse momento que falei “cara, os caras podem me matar”. Eu tive três opções na minha vida, dei pra mim. Se matar, acabou. Se eu ficar preso muito tempo, vou construir uma obra dentro da cadeia. Se eu sair, eu quero ficar famoso. Porque não aguento mais ser sequestrado e preso. Quero ser preso legitimado pelo Chico Buarque.
PAS: Estava com um sensozinho de humor ainda lá dentro…
GA: Pois é, era o único jeito da gente resistir. Ninguém sabe o que era aquilo, não. Violência, uma sirene tocando, dentro do frigorífico, nu, deitando em pedra de gelo, dormindo em cima de gelo. Eu não aguentava mais, um negro total, sem luz nenhuma.
PAS: Geraldo, você é prova viva de que o Brasil torturou pessoas em 1969 e em 1974, no mínimo.
GA: Vixe. Mataram gente.
PAS: É que eles negam, agora estão voltando a mais uma fase de negação.
GA: Eu fui testemunha auditiva da morte de Armando Frutuoso. Dez dias depois estava no jornal que Armando Frutuoso estava sendo julgado à revelia, porque era fugitivo. Ele já estava morto. Aí eu disse: se sair vou fazer outro disco. Aí saí, com o maior gás. Bola pra frente. Saí com vigor. Claro que estava machucado, mas saí com vigor.
PAS: É um jeito de resistir também.
GA: E me lembro que Caetano tinha lançado Qualquer Coisa e Joia (1975). Eu era muito amigo de Gil, pensei: vou procurar Gil, vou pedir a Caetano pra produzir um disco meu, um disco dessa cor.
PAS: Mas ele não produziu…
GA: Acabei conhecendo Caetano. Pedi a Guilherme Araújo pra assistir um show de Gil, queria falar com ele depois. “Está cheio demais.” O teatro estava cheio, eu sou baixinho, fui na beira do palco, caio em cima de uma pessoa, “desculpa”, “Geraldinho?”. Era Caetano, e ele me conhecia (ri). Terminou que ele não quis fazer, não. Continuamos o papo, “adorei conhecer você”. Sei que estou em casa, liga João Araújo (pai de Cazuza, então diretor da gravadora Som Livre), “vem aqui, a gente quer conversar com você”. Me propôs um disco, “quero fazer um disco com você”. Alceu já tinha gravado, pela mesma gravadora.
PAS: Você acha que teve interferência do Caetano, ou do Gil?
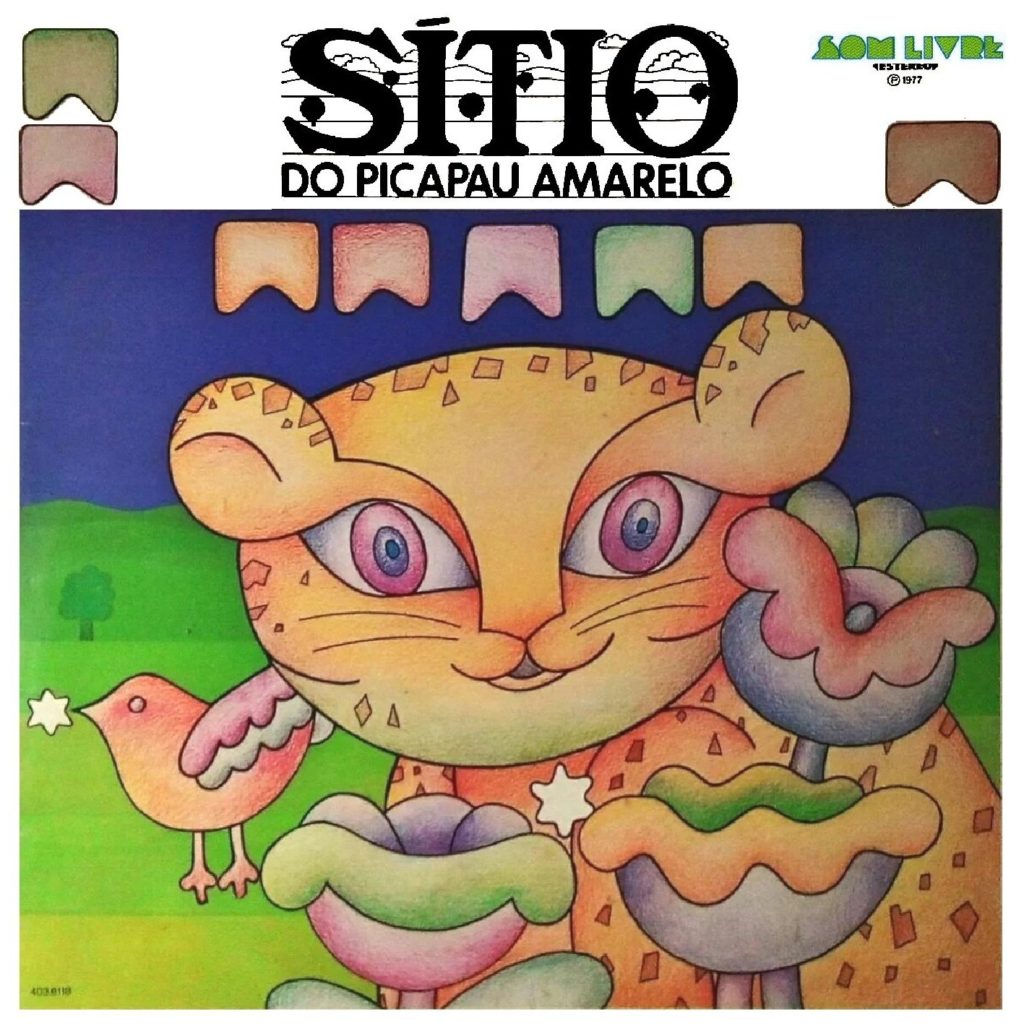
GA: Não, não. Foi a música na novela. Fiz Sítio do Picapau Amarelo, Gabriela, Saramandaia. Aí, cara, fiz o disco. Mas tive uma coisa muito cruel e irônica em relação a esse disco (Geraldo Azevedo, de 1977). Foi a primeira viagem da ditadura pra fora do Brasil. Foi Ernesto Geisel pra Alemanha. O Roberto Marinho resolveu entregar material pra ele levar pra Alemanha. Foi o meu disco e o disco de Villa-Lobos. Então eu fui representação cultural da ditadura. O mesmo presidente que me prendeu achou que eu era o representante. Uma ironia muito grande.
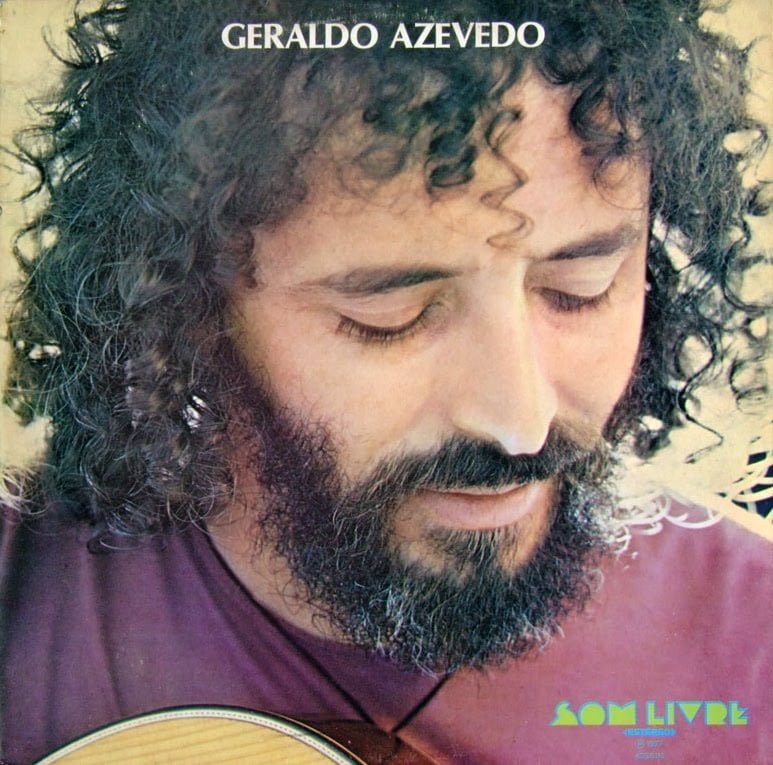
PAS: O que você sentiu?
GA: Essa matéria saiu no Jornal do Brasil, eu não guardei. Não guardei. Tinha um bocado de coisa, do Maranhão, mostrando o material que o presidente ia levar pra Alemanha.
PAS: Você está dizendo que foi cruel porque não queria ser um representante daquilo?
GA: Da ditadura?? Embora eu fosse representante do Brasil, mas pela ditadura, não. Como é que o cara me tortura e depois eu sou representação dele?
PAS: Então esse cara famoso mesmo você foi ser no disco seguinte, Bicho de 7 Cabeças (1979), que estourou mais?
GA: Foi, apesar de que no anterior tinha “Caravana”, que fez muito sucesso. Inclusive foi feita pra ser a abertura da novela, mas aí Dori Caymmi construiu com Jorge Amado aquela música “Gabriela” (“Modinha para Gabriela”, com Gal Costa) e me tomou o lugar.
PAS: Esqueci de perguntar uma coisa sobre o disco de 1972: por que “Talismã” foi censurada?
GA: Foi censurada porque, loucura da ditadura, era “Joana, me dê um talismã/ viajar”, eles acharam que eu estava falando de marijuana, uma viagem psicodélica (risos).
PAS: Era psicodélico mesmo. Maconha não entrava na parada?
GA: Nesse tempo eu nem fumava. (Enfatiza.) Nesse tempo eu nem fumava (risos). Eles me chamaram atenção pra uma coisa. A gente foi chamado pela Censura. Fui chamado por essa e por “Mister Mistério”, porque falava em tupamaros. Tive que mudar. “Talismã” só mudou o nome, “pode ser Diana?”, “pode” (risos).
PAS: Eram muito doidos.
GA: Meus problemas com Censura foram essas duas músicas e a música com Vandré. Outros atristas sofreram mais, como Taiguara, Chico Buarque, Alceu. Alceu teve uma música censurada na novela Gabriela (“São Jorge dos Ilhéus”), tanto que ele canta sem letra.
PAS: Nesse momento a Globo estava descobrindo os nordestinos? Você foi trabalhar com trilhas pra eles.
GA: O Guto Graça Mello era uma pessoa muito sensível, conseguiu fazer umas trilhas muito bem feitas. Depois que ele saiu…
PAS: Tem a lenda dos comunistas do senhor Roberto Marinho. Você seria um deles, ou não?
GA: Não, eu não seria isso, não. Nunca soube disso, não. Eu fazia só música. Depois fui contratado pela Som Livre, e só fiz um disco.
PAS: Bicho de 7 Cabeças foi pela CBS. Foi quando Fagner era o diretor artístico?
GA: Exatamente. Acho que esse disco, juntamente com toda aquela obra criada no Nordeste, reflete um movimento que infelizmente não teve título pra poder demarcar esse momento. Mas foi um movimento, um movimento muito importante na música brasileira, um dos mais fortes. A tropicália é um momento marcante, mas é Gil, Tom Zé e Caetano, não passa disso. Quem são os tropicalistas? Não existe. Mas isto (segura o LP de 1979), não, isto é Brasil, Ceará, Pernambuco, Bahia, Paraíba.
PAS: Vocês tinham consciência de estar fazendo um movimento?
GA: Isso aí é que pesa, a gente não tinha, não. Também não tinha essa unificação. Tinha o grupo do Ceará, queriam entrar com negócio de grupo de Pernambuco, mas tinha um bocado de grupos de Pernambuco. Não existia, era eu e Alceu. Tinha muita gente importante, Robertinho de Recife, Flaviola, Tamarineira Village, que virou Ave Sangria, tinha uma importância incrível. Eles tinham realmente um movimento em Pernambuco, que vocês estão chamando agora de psicodélico (risos). A gente infelizmente não criou um rótulo assim como bossa nova ou tropicalismo. A gente não teve essa consciência de união.
PAS: Você já chegou a imaginar que nome seria?
GA: Não, nunca pensei, não… Também não gosto dessa coisa “nordestinos”, porque nunca ouvi falar dos sudestinos.
PAS: Nordestina a tropicália também era.
GA: É, pô. A Bahia já é o Nordeste quase carioca. É o Nordeste com um pé no sul.
PAS: Ficou a Bahia pra um lado e todo o resto pro outro.
GA: É, é engraçado.
PAS: Você disse que tem especial apreço pelo De Outra Maneira (1986), por quê?
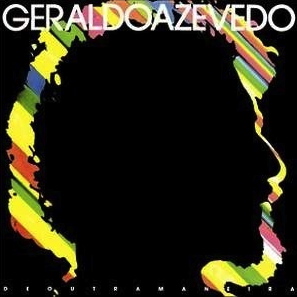
GA: Porque foi meu primeiro disco independente, quando vi que eu não tinha jogo de cintura pra conviver com as gravadoras.
PAS: Foi um pioneiro nisso.
GA: É, tinha dois artistas antes de mim, Antonio Adolfo e o Boca Livre.
PAS: Luli & Lucina também gravavam independentes.
GA: É, depois surgiram mais. Hoje é só o que tem, né? Mas naquele tempo era difícil.
PAS: Mas então você não se dava com as gravadoras?
GA: Não tinha estrutura, não, cara. Os diretores artísticos têm uma vaidade maior que a minha. Eu não sabia transar com essa vaidade deles, não dava pra agradar eles também. Teve um cara que chegou assim: “Olha, a gente contratou você, agora a gente quer que você grave fulano de tal”. Você me contratou por causa da minha obra. “Se você não me ouvir não vai acontecer.” Eu não ouvia os caras, eles pegavam o disco e guardavam. Ele queria dar o exemplo do Fagner, que o Fagner ouviu aquele “Deslizes” (1987, de Michael Sullivan e Paulo Massadas), eu digo: “Eu não vou cometer deslize, eu não” (risos). Deixa pros outros.
PAS: Você participou daquele movimento da criação da gravadora Ariola no Brasil, não foi?
GA: Sim, fui contratado lá. O primeiro disco que fiz lá foi Inclinações Musicais (1981). Esta (mostra a contracapa cheia de capas de discos de MPB) era para ser a capa, e a gravadora não aceitou. Eu e Renato Rocha escolhemos os discos.

PAS: Entregam todas as influências do cara.
GA: Se você olhar aqui embaixo, tem uma poça d’água que reflete o nariz do João Gilberto (risos).
PAS: Isso é psicodélico (risos). Esse disco tem músicas importantes também.
GA: Esse disco foi condenado pelo diretor de marketing, porque não tinha nada pra tocar no rádio. Tanto que foi o único ano que fiz dois discos no mesmo ano. O disco foi engavetado, porque não prestava pra gravadora, e eu fiz outro.
PAS: É aquele de forró?
GA: For All para Todos. Foi horrível. O cara da gravadora disse: “Olha aqui, não tem nada que presta”. (O produtor) Mazzola levantou e disse: “Pô, mas tem muita música bonita”. “Bonito não significa nada neste mercado. Precisa estar condizente com o mercado.” Fiz o outro, o cara: “Agora temos um produto”. Rapaz, foi o disco que mais ganhei coisa da gravadora, suporte pra banda, viagem para o Brasil inteiro pra divulgar.
PAS: E fez sucesso?
GA: Oxente! Fiz show, a gravadora bancava parte de tudo, shows lotados no Recife, Bahia, Maranhão. Todo mundo ia pra loja e pedia o disco daquele show. Mas eu cantava muita música do Inclinações Musicais, cantava “Moça Bonita”, “Dia Branco”, cantava esse disco, também. O que aconteceu? Neguinho corria pras lojas, botavam For All para Todos, “não, não é esse, não! O que tem ‘Moça Bonita'”. O outro disco empacou e este estourou. Foi uma das muitas razões pra eu largar as gravadoras.
PAS: O cara estava enganado, né?
GA: Totalmente. Quem diz que você tem que fazer tudo igual ao mercado? Acontece quando você tem ousadia. É o disco que tenho mais sucessos, tocou no rádio “Caravela”, “Canta Coração” “Moça Bonita”, “Dia Branco”… E tem “Inclinações Musicais”.
PAS: E sobre o DVD novo, Solo Contigo? É pra uma gravadora, que é a Deck, mas acho que não é uma gravadora como aquelas.
GA: A Deck está distribuindo, mas o disco é meu (pelo selo Geração). Esse DVD é fundamentado no processo de um disco que fiz ao vivo, Ao Vivo Comigo (1994). Foi depois do Berekekê (1992). É um disco que explodiu pra mim, toca a vida inteira, porque é voz e violão. E eu tinha o sonho de registrar isso em DVD. Algumas músicas daquele CD estão neste de novo. E aproveitei e botei novas opções também, uma música do Sérgio Telles, uma do Luiz Melodia, grande mestre que foi embora cedo demais, meu irmão, amigo. Gravei também uma que fiz para o centenário de Mário Lago. E outras pérolas da minha carreira. Não posso fazer um show sem cantar “Dia Branco”, “Táxi Lunar”, “Moça Bonita”…
PAS: Táxi lunar é um avião?
GA: É a nave que atravessa o planeta pra outro planeta do cabelo vermelho.
PAS: É psicodélica. Isso é psicodelia, está explicado.
GA: É psicodélica.
PAS: Geraldo, queria conversar um pouco sobre o presente. Quando você falou sobre a paranoia que existia nos anos 1970, hoje está querendo chegar perto, não está?
GA: Parece que está ficando pior, né?
PAS: Você acha?
GA: Eu tenho impressão que hoje existe uma intolerância maior do que naquele tempo. Naquele tempo existia uma alienação, e tinham pessoas que viviam com medo, sabiam. Hoje, existe uma comunidade que não sabe devidamente das coisas, e o que sabem do outro não aceitam, de uma maneira odiosa. Então a gente não só tem os militares contra a gente, não. A gente tem uma comunidade maluca, inconsciente, um bocado de coisa. A intolerância ficou de uma maneira absurda. Isso é fruto da internet, da impossibilidade de ter voz.
PAS: Uma coisa que não me convence muito é que acho que todo mundo está sabendo o que está acontecendo. Não dá pra dizer que não, que não tem um cara inocente preso.
GA: Mas tem gente que acredita. Fake news só se mantêm porque tem pessoas que acreditam.
PAS: E esse seu episódio com o general Hamilton Mourão?
GA: É muito chato, porque eu fui preso, encapuzado e torturado. Aí você não sabe. A gente falar essas coisas, eu tive que me retratar, porque não sei também.
PAS: Eu tinha entendido que você falou no sentido figurado, “foram esses caras aí que me torturaram”.
GA: Foi. Na hora que falei, o Jair Bolsonaro era a favor da tortura.
PAS: Ainda é.
GA: O cara que é militar e está do lado dele não fala nada? Eu falei de uma maneira figurada mesmo. Mas há de convir que durante a ditadura tinha um Mourão, Mourão Filho.
PAS: General Olímpio Mourão Filho, é nome de avenida em São Paulo (engano do repórter: a avenida é General Olímpio da Silveira).
GA: Foi lamentável isso, pedi desculpa a ele se ele não foi mesmo, não. Mas se ele não foi, nós, brasileiros, merecíamos uma justificativa dele. Eu fui vítima daquilo. Eu fui torturado realmente. Se não fosse por ele, mas por pessoas que eles aprovam.
PAS: Da corporação deles.
GA: É triste isso aí. É triste ver um cara sendo candidato ovacionando um dos maiores torturadores da ditadura. A gente fica apavorado. Como você falou, foi de uma maneira figurada, mas ao mesmo tempo eu sabia que existia um Mourão.
PAS: Você me chama a atenção para isto, como é ouvir na votação para derrubar Dilma Rousseff um cara celebrando o Ustra (Carlos Alberto Brilhante Ustra), como um cara como você se sente?
GA: Olha. Fiquei com medo desde o começo, desse cara cada vez mais tendo adesão. O povo está ficando maluco? É claro que foi a imprensa a culpada, enfatizando a coisa do Lula, como se o Lula fosse o grande inimigo do povo. Ele é uma vítima feito a gente. Lula é um prisioneiro político.
PAS: Seu conterrâneo.
GA: Lula é um prisioneiro político. Afastaram ele da luta política. Ele podia se recuperar inclusive até na questão ética, deixou muita gente de lado. Tenho certeza que ele não ia repetir. Mas…
PAS: Não querem.
GA: Não querem.
PAS: Um pouco mais do seu sentimento quando ouviu o elogio. Dá pra acreditar no que está acontecendo? Virou realidade, ele é o presidente do Brasil. Como a gente faz pra prosseguir?
GA: Não, dizer que ele é o presidente do Brasil é um pouco irônico. Ele foi eleito presidente, mas dizer que ele é o presidente é muito diferente. Ele até agora não foi um presidente. Ele não sabe ser presidente. Ele não tem a capacidade de ser presidente. Está tomando, né? Mas é difícil falar essas coisas, eu não quero ficar de contra. Eu sou a favor do Brasil, eu quero é que ele dê certo. Vou torcer até por ele. Mas não do jeito que ele está seguindo.
PAS: Ele não está ajudando.
GA: Ele não está ajudando ele mesmo. Não sou eu que digo, todo mundo está dizendo. Mas eu vou torcer por ele, porque eu torço pelo Brasil.
PAS: Neste contexto atual o Nordeste virou uma ilha?
GA: Não tem representação.
PAS: Mas não é um sopro de esperança?
GA: Eu não sei. Eu não gosto do Brasil dividido, não. Gosto dele inteiro e sentindo toda essa problemática. A gente fica lamentando tudo, porque a gente sabe que vive num dos países mais importantes do mundo, em termos de riquezas naturais, de potencialidade, e ver as pessoas vendendo o Brasil, o poder vendendo o Brasil. A gente fica preocupado com tudo isso. É um país maravilhoso, onde a cultura é muito ampla.
PAS: A cultura está ameaçadíssima.
GA: Está sendo desvalorizada, encostada na parede. A educação, que seria a coisa mais fundamental pra levantar a moral do Brasil, também está sendo emparedada.
PAS: O excelentíssimo presidente já implicou pessoalmente com Alceu. Pode ser que implique com você também.
GA: Eu soube. Eu tenho maior medo. Não é que tenho medo, eu fico temendo essas coisas.
PAS: Tem medo, mas enfrenta. Não demonstra não ser destemido.
GA: Eu acho que o medo é imprescindível. É através do medo que a gente cria recursos de vencê-lo. Mas eu espero que a sensatez alcance essas pessoas, até a ponto de eles se manterem. Porque está difícil manter desse jeito. Não sou eu que estou dizendo, não, todo mundo está falando aí dessa insegurança.
PAS: Não falamos sobre o Grande Encontro, que é uma experiência muito feliz.

GA: É um projeto realmente maravilhoso. Eu nunca imaginaria. Até porque a gente cria esses irmãos na vida da gente, e a gente termina se afastando muito, pela carreira individual. O Grande Encontro deu margem também da gente se agregar mais. Outra coisa é que é um projeto que traduz muito a história do Brasil, culturalmente. Mostra que quem faz com ética, com dignidade, pode se manter e prosseguir nessa trajetória. Tem canções aí que eu canto há 50 anos. “Táxi Lunar”, “Caravana”…
PAS: Tem algo que não possa contar sobre o Grande Encontro (Geraldo sairá da entrevista para um show com Alceu e Elba, na noite de sábado 6 de abril)?
GA: Não, do Grande Encontro não tem, não. A única coisa que tenho a contar é do projeto de frevo, e também estou cheio de música nova pra lançar, com vários parceiros novos, Ronaldo Bastos, Abel Silva, Maciel Melo, além de Zé Ramalho, Renato Rocha, Geraldo Amaral…
PAS: Carlos Fernando se foi…
GA: Mas ainda tem música inédita com ele.
PAS: Vai ser psicodélico?
GA: A psicodelia vai continuar.
