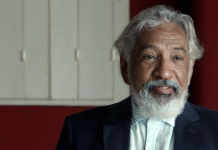Ao se embrenhar pelos rios e florestas dos municípios amazonenses de São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro e das fronteiras do Brasil com a Venezuela e a Colômbia, o diretor português José Barahona simula no documentário Nheengatu algo como uma viagem de retorno, descolonizadora, às origens das relações de Portugal com sua ex-colônia tropical. O subterfúgio é tentar compreender o nheengatu, um idioma-pororoca que no correr dos séculos se tornou uma língua de comunicação entre indígenas de diversas etnias, mas também entre os povos originários e os colonizadores/catequizadores enviados de Portugal.
No encalço do nheengatu, Barahona parte do Amazonas, chega à Venezuela e retorna, numa investigação perturbadora sobre a extinção de idiomas, a constituição de uma língua comum e a incessante guerra de extermínio de portugueses e brasileiros ditos pós-coloniais contra a babel linguística, em favor da sujeição total dos povos amazônicos à língua dos colonizadores. O que o filme retrata, nesse percurso, é a queima simbólica generalizada de seres humanos nas fogueiras da dominação e da sujeição cultural, em tudo análoga aos incêndios que consomem a floresta material e comovem o mundo da boca para fora.

Personagens complexos e fascinantes, invariavelmente indígenas ou mestiços, vão compondo um cenário de incineração, de câmara mortuária de identidades e modos de expressão. Surgem reiteradas histórias de escravização de indígenas, que se refletem diretamente na censura linguística a seus direitos de se expressar como quiserem. São lembrados padres que batiam com palmatória em quem falasse nheengatu, vetos impostos pelos militares no poder (ontem e hoje), jovens que têm vergonha de se comunicar na língua materna quando visitam as cidades, crianças que ainda entendem, mas não falam a ex-língua materna…
“Antes assim era a Amazônia. Éramos todos índios, não tinha nenhum branco. Ninguém entendia português aqui no Amazonas. Quando vinha branco a maioria corria pro mato. Tinham medo”, traduz o autor de um dos depoimentos, que quase sempre misturam português e nheengatu (e/ou línguas ainda mais antigas). O padrão se repete quando a equipe de filmagem atravessa as fronteiras oficiais: lá, os habitantes oscilam entre o nheengatu e o espanhol.
O jornalismo cultural de Farofafá precisa do seu apoio! Colabore!
QUERO APOIARIndígena apesar do nome, dona Ciloca dos Santos contrapõe “rebaixados” e “civilizados”. Os primeiros ela descreve como analfabetos, “pobrezinhos”, filhos de pai “quase considerado como escravo pelos brancos”, falantes de nheengatu. Entre os segundos estão soldados, professores, gente que expressa a “civilidade” em “roupa bonita, sandália, chinelo, sapato” e em português. “A civilização está chegando em cima da gente”, ela resume, deixando transparente quem está por baixo e quem está por cima no “diálogo”.
Uma ribeirinha guarda em casa uma Bíblia em nheengatu, traduzida segundo ela pela missionária estadunidense que trouxe as religiões brancas para a região. “Às vezes eles dizem que atrapalhou um pouco a cultura deles”, admite uma freira que atua na tarefa europeizadora da Amazônia. “A gente não dança mais, só vai nos cultos. Proibiram quando viramos crentes”, explica uma (ex-?)indígena.
Um dos personagens mais eloquentes reaparece de terno e gravata, pregando como pastor numa igreja evangélica. Em espanhol, uma mulher conta da adesão de seu povo à Assembleia de Deus – hoje são “todos cristãos, soldados de Cristo”. Para homenagear e agradar os padres-pastores-colonizadores-catequizadores-militares do século 21, fiéis religiosos que também são soldados ostentam réplicas de metralhadoras em madeira.
Nos momentos mais ricos de Nheengatu, diversos depoimentos explicitam o conflito entre os falantes de nheengatu e a equipe de filmagem. São frases exemplares, muitas vezes proferidas em tom de galhofa, às gargalhadas: “eles vão ganhar em cima de nós”, “não sabemos por quanto ele vai vender isso”, “fale nheengatu para eles irem embora”, “devia ter perguntado ‘o que vocês me trouxeram?'”, “querem nos rebaixar”, “agora vá buscar frango para nós”. Numa aldeia, um habitante tenta negociar com Barahona uma carga extra de gasolina em troca da filmagem, oferta que o diretor parece recusar.
Nesses momentos que desnudam as relações até hoje persistentes entre brancos e não-brancos, tudo se torna ainda mais cruel, à medida que o filme redentor-“descolonizador” parece simbolizar, para os objetos de seus desejos, a mesma coisa que sempre significaram os discursos e atos religiosos, militares, portugueses, brasileiros, catequizadores, colonizadores em geral. Enquanto as árvores são incendiadas até às cinzas, os seres humanos só conhecem novas e novas camadas de subjugação.
Nheengatu. De José Barahona. Brasil/Portugal, 2020, 114 min. Em cartaz nos cinemas a partir de 2 de dezembro.