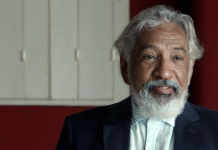O cearense Karim Aïnouz continua a fazer filmes brasileiros, apesar de morar há dez anos em Berlim, na Alemanha, e depois de ter vivido, desde os 18 anos de idade, em países como Estados Unidos e França. A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, selecionado para representar o Brasil no Oscar 2020, tem um quê de universal, mas se passa predominantemente no Rio de Janeiro suburbano dos anos 1950, entre os bairros da Tijuca, do Estácio, de São Cristóvão e de Santa Teresa. “Este filme tinha algumas regras, uma era não filmar na zona sul”, conta, em entrevista no final da tarde de 27 de agosto, o mesmo dia do anúncio da escolha do filme para disputar indicação ao Oscar de filme internacional, por cinco votos, contra quatro do pernambucano Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles.
Apesar de tão carioca, A Vida Invisível (inspirado no livro homônimo da tijucana Martha Batalha) terá première no Brasil fora do eixo Rio-São Paulo, na Fortaleza natal de Karim, em 30 de agosto, durante o festival Cine Ceará. A estreia também será antecipada para os estados nordestinos, em 19 de setembro – as demais regiões do país receberão o filme a partir de 31 de outubro. Karim brinca, aí, com sua identidade original e com a posição de contracorrente e vanguarda do Nordeste em tempos bolsonaristas. “Fui criado em Fortaleza, tinha poucos voos, era um lugar muito isolado, não tinha escola de cinema. Não saí de lá à toa”, descreve. “Mas é muito impressionante o que está acontecendo em Pernambuco, e está acontecendo porque tem um edital de cinema lá há mais de 15 anos. É a confirmação de um monte de políticas públicas que estão acontecendo no Maranhão, em Pernambuco, no Ceará, na Bahia. O governo do PT permitiu uma descentralização gigante do audiovisual. A gente sempre teve uma produção cultural incrível, na literatura, na música, mas especificamente no cinema é um momento muito importante.”
Entre o Ceará, o Rio e o mundo, o lugar de fala de Karim também é testado pela temática de A Vida Invisível, que o diretor classifica como um melodrama tropical. Facilmente interpretável como feminista, ao descrever as agruras de duas irmãs nascidas no Brasil da virada entre os anos 1920 e 1930, o filme tenta ser antes de tudo, para o autor, uma obra não-machista. “Eu me perguntava muito durante o processo: será que eu tenho direito a ocupar esse lugar de fala? Será que eu posso falar sobre essas personagens?”, diz, lembrando que esse tipo de questão nem se colocava em 2006, quando fez o também femininíssimo O Céu de Suely.
Na entrevista a seguir, Karim tenta responder às próprias indagações e a outras tantas, sobre A Vida Invisível, sobre a reação homofóbica a Praia do Futuro (2014), sobre projetos futuros, sobre o Brasil protofascista de 2019 e os lugares do diretor no cinema e no mundo.
O jornalismo cultural de Farofafá precisa do seu apoio! Colabore!
QUERO APOIAR
Pedro Alexandre Sanches: Não foi totalmente surpresa a indicação para concorrer ao Oscar, foi?
Karim Aïnouz: Cara, foi, porque é um ano muito bacana. São 12 filmes ali. Bacurau tinha muito mais visibilidade, com lançamento esta semana. Então pra mim realmente veio como uma surpresa. Claro que eu tinha uma ponta de esperança, você sempre tem. Mas ao mesmo tempo tinha ali um lugar bastante complexo. Eu dormi mal ontem, achei que não ia rolar.
PAS: Qualquer resultado neste ano seria polêmico, e acredito que é polêmico. Foram cinco votos contra quatro para Bacurau. E escolheram o filme menos explicitamente político.
KA: Não, acho que não, isso eu não concordo, não (ri). Depende do que a gente chama de político. Tem uma coisa de uma política frontal e discursiva e uma outra coisa que é uma política do íntimo, que passa por outros lugares. É uma política do poético, que é o que me interessa mais.
PAS: Que é o que você trabalha normalmente…
KA: É, Madame Satã (2002) era muito frontalmente político, era um grito. Neste filme eu achava muito importante que ele fosse um sussurro inditoso quase, sabe? Porque, poxa vida, uma das coisas que mais me preocupam realmente no Brasil hoje é que, pô, quem são esses 54 milhões de pessoas que votaram nesse cara. Como é que se conversa com essas pessoas? É muito fácil não conversar. No último ano, segui muitos sites de extrema direita no Instagram, pra entender um pouco como é que é o raciocínio. Claro que não é um tema no sentido de uma resistência política de grupo. Tinha uma coisa ali muito sobre a condição feminina, mas pra mim muito sobre o patriarcado, e uma aposta num cinema que é político por esse viés. É uma coisa quase de estratégia de guerra, de conquistar corações e mentes, sabe? Era o que me deixava preocupado.
Com o decorrer do histórico dos dois filmes ficou uma polarização que eu achava meio absurda, um filme é político e o outro não é. Claro que não, imagina, quem sou eu?, estou fazendo isso há 25 anos, hello (ri)! Também deve ter sido uma decisão política nesse sentido, esse cinco a quatro. Foi perto, mas estou bem feliz que tenha sido a gente. Foi bacana que tenham tido outros 11 filmes. Mas, enfim, tem um caminho gigante pela frente, ninguém está ganhando nenhum jogo, a gente só está sendo permitido a jogar. Acho perigoso o argumento de que um filme é político e o outro não é.
Eduardo Nunomura: Você consegue imaginar, já que conheceu esses grupos de direita, a repercussão que vai ter? Uma vez que foi credenciado a concorrer ao Oscar, A Vida Invisível vai conseguir atingir uma massa muito grande, provavelmente esse tipo de público também.
KA: Eu espero que sim. Eu tenho uma esperança grande que isso aconteça, mas ao mesmo tempo vi um post de um site de direita da Paraíba, uma loucura. De um lado tenho uma esperança grande que a gente chegue a falar, porque em última instância o que a gente está falando aqui é de uma crítica ao patriarcado, de uma maneira outra, que não é frontal. Acho que uma mulher de classe média vai ao cinema pra ver esse filme. Tem a coisa da Fernanda Montenegro, que é importante. Mas esse site, no meio de tudo isso que está acontecendo, tinha uma foto do Jair Bolsonaro olhando pra cima e dizia que ele foi enviado por Deus. É um momento que você não sabe exatamente até onde consegue conversar. Mas é muito importante que a gente consiga conversar. Uma das coisas que falam de política muito explicitamente que me preocupa muito é que há um desamparo, uma população desamparada, a que foi prometida uma coisa…
Não estou falando de maneira nenhuma como uma crítica ao PT. Acho que foi prometido e não deu tempo de entregar. E aí o movimento foi cortado no meio, e tem um desamparo e uma raiva de não terem sido entregues algumas coisas que foram prometidas. Vira um negócio meio irracional. Tem um artigo do Jessé Souza sobre isso, superbonito, que avalia quem sobrou nesse movimento de apoio a um governo dessa natureza. Espero que a gente chegue nessas pessoas, uma das coisas que eu ficava muito torcendo por essa indicação, antes de qualquer coisa era pra isso. Claro que vai ser muito legal a gente concorrer, claro que é legal a gente concorrer agora, não vamos também fazer uma falsa humildade aqui, é muito importante, a gente vai e tal. Mas o filme da Anna Muylaert (Que Horas Ela Volta?, 2015) tinha 50 mil espectadores e depois que foi indicado como o filme que ia representar o Brasil ficou com 500 mil. É a hora da gente fazer isso. Não sei exatamente qual é o output político do filme no sentido de como ele vai bater nas pessoas, mas espero que ele dê raiva nas pessoas. Vocês viram o filme, né?
EN: Sim.
KA: Precisamos mudar alguma coisa.
PAS: Eu queria entender uma coisa. Entrevistei também Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, e eles falam que quando começaram a pensar em Bacurau não existia nem o Donald Trump, e o filme era uma ficção absurda. Aí Trump foi eleito e o filme passou a ser menos absurdo. Agora, ele já tinha sido filmado quando Bolsonaro venceu a eleição, e estreia quando virou menos absurdo do que nunca. Eu queria saber a cronologia de A Vida Invisível quanto a isso.
KA: Depois de Praia do Futuro (2014), fiz um filme dois anos atrás sobre um aeroporto que foi ocupado por refugiados na Alemanha (Zentralflughafen THF, 2018). A recepção do Praia do Futuro foi muito violenta pra mim, realmente passei alguns anos pra entender.

PAS: Como assim, Karim?
KA: Ah, é muito violento você ter uma pessoa que é agredida como bilheteiro de uma sala de cinema por causa de um filme. O filme não tem nada demais. Então eu ali também me recoloquei no sentido de qual é a minha estratégia política enquanto cineasta. Acho que hoje ele teria sido queimado, provavelmente, né? Ou nem teria sido lançado.
PAS: Essa é uma boa pergunta.
KA: E aí fiz esse filme na Alemanha e fiquei pensando como é que eu posso de fato falar sobre algo relevante de uma maneira contundente, fiquei procurando o que era. O filme começou num lugar muito privado, eu perdi minha mãe em 2015. A minha mãe é muito o personagem da Guida. Meu pai foi embora, ela me criou sozinha. Nunca vi ela reclamando. Quando ela morreu, fiquei com muita vontade de contar a história dela, porque pouco se sabia o quanto foi difícil pra ela.
PAS: Isso foi no Ceará?
KA: É. Minha mãe era professora universitária de classe média, foi uma vida dura, mas de nenhuma maneira aquilo percolou na minha criação. E aí eu li o livro da Martha Batalha. Fazia muito tempo que eu e Rodrigo (Teixeira, produtor do filme) flertávamos de fazer outro filme. Ele desenvolveu, sei lá, uns cinco projetos entre O Abismo Prateado, que foi em 2011, e agora. E ele me mandou o livro. Comecei esse projeto muito pequeno, simplesmente eu queria fazer um melodrama. Eu sempre sonhei, e acho que estou numa idade que preciso que os sonhos parem de ser sonhos. Precisam ser realidades. Então comecei a pensar que isso tinha um DNA de melodrama, um gênero que eu queria muito estudar. Eu admirava, mas nunca tinha estudado de maneira mais precisa. Ele começa muito como um filme que era um retrato da geração de mulheres da idade da minha mãe. Se estivesse viva, ela hoje teria 90 anos. Foram mulheres que fizeram conquistas incríveis nas décadas de 1960 e 1970, e a gente celebra pouco, ou olha isso de maneira pouco rigorosa. Então o filme começa nesse lugar muito privado, mas é claro que você não pode fazer um filme só por causa disso – a quem interessa?
Com o decorrer do tempo, a questão da condição feminina e as pautas feministas foram tendo muito mais visibilidade, nos últimos dois ou três anos. Era 2015, a gente filmou em 2018. Então evidentemente o projeto e a trama e a história dos personagens foram tomando um caminho que dialogava com isso. Claro que tinha ali uma raiva do patriarcado, que era gigante e que eu sempre tive crescendo, mas não tinha uma pauta política explícita. Claro que isso foi contaminando o filme, não só sobre o que eu queria falar, mas será que eu teria direitos de falar disso? Uma questão que foi muito bonita nesse filme é que eu me perguntava muito: será que eu tenho direito a ocupar esse lugar de fala? Será que eu posso falar sobre essas personagens? E foi muito bom, porque foram questões que quando fiz O Céu de Suely (2006) eu não me perguntei sobre. Foi um gesto que eu fiz naquele momento. E aí o Vida foi virando de fato um projeto que tinha um cunho político nesse sentido, de falar de uma questão que era muito relevante no mundo que a gente está vivendo. Quando falo em patriarcado estou falando do patriarcado do mundo. Tem um desespero tamanho, o negócio está ruindo de tal maneira que todo mundo está desesperado. Então o Trump está desesperado, o (Viktor) Orbán está desesperado, uma coisa do fim do homem branco…
PAS: Derrubam Dilma Rousseff nesse meio tempo…
KA: É, tem a queda da Dilma, um negócio que me deixou doente. Aquilo eu não acreditava que fosse acontecer, nunca acreditei. Então o filme foi de fato se aproximando de pautas políticas mais explícitas, mas sempre com essa vontade. Eu ficava muito pensando quando eu fazia o filme, eu vi muita novela da Janete Clair, aquelas novelas no começo da Rede Globo, O Primeiro Amor (1972). Eu colecionava os discos, tenho todos os LPs das novelas, fui criado vendo isso. Minha mãe chegava do trabalho, a gente estava em casa, ela nunca gostou muito que eu visse televisão, mas eu fui me apaixonando pelas músicas. Fiquei olhando pra aquilo como talvez um lugar, e acho que o melodrama daquele lugar, que tinha muito mais rigor, foi meio se desidratando no decorrer dos anos. Estava muito procurando um lugar de fala que fosse um lugar que eu pudesse chegar num público a que eu não tinha chegado antes. Eu achei que fosse chegar com o Praia, mas o Praia foi sequestrado completamente, a pauta gay foi completamente sequestrada.
Claro que tudo isso é um cálculo, mas teve teve uma outra coisa no filme também, que é isso, não sei se você chegou a ver meu primeiro filme (Seams, de 1993), é um filme sobre a minha avó. O marido da minha avó também foi embora, ela criou as duas filhas sozinhas, minha mãe e minha tia. E meu primeiro documentário, que na verdade é um filme híbrido, é sobre a minha avó, minhas quatro tias, e a razão por que comecei a fazer aquele filme na época é que eu estava morando nos Estados Unidos e era o começo das pautas identitárias mais explícitas. E eu fiquei muito frustrado como as pautas identitárias não se cruzavam. Você tinha a pauta queer, que estava ligada à questão da Aids, a pauta feminista, a pauta étnica-racial, e esse filme é exatamente como a gente pode ter uma política não de identidade, mas de aliança política mesmo. Mas como você fala disso hoje, percolando e chegando num público que eu não tinha chegado ainda?
EN: Esse filme é de 2002?
KA: Não, é de 1993. Tem mais de… Quantos anos tem? Quase 30.
PAS: Bastante. Você era moleque.

KA: É (ri), 24, 25, eu devia ter isso. E O Céu de Suely é um segundo capítulo nessa questão, e agora era muito importante eu falar dessa geração. Detesto falar do meu trabalho como um trabalho de autor, que tem continuidade, porque eu nunca estou pensando muito nisso. Mas era um lugar pra o qual eu queria voltar e foi bonito eu ter voltado. Mas, enfim, era um filme que no começo foi um gesto muito intuitivo de fazer um retrato dessa geração, nunca ingenuamente. E depois ele virou um filme que tenta ir pra esse lugar – por isso falo que nenhum é mais político que o outro, são estratégias.
EN: Você está falando de lugar e lugar de fala. É por isso que você disse que o filme A Vida Invisível é um filme não-machista, e não um filme feminista?
KA: Eu não acho que ele é um filme feminista, exatamente. Exatamente por isso. Ele é um filme contra o machismo, mas não acho que é um filme feminista, porque um filme feminista deveria ter sido feito por uma mulher. Eu prefiro colocar o filme nesse lugar, não acho que é justo dizer que é feminista.
EN: A gente até usou (na CartaCapital) a expressão “um filme mais que feminista”, porque ele extrapola essas discussões. Tanto atinge o público não-machista quanto o feminista. A gente até percebeu, na cabine, que a reação das mulheres é forte.
KA: É muito forte. Eu vi isso em Cannes. Eu nunca vejo… É uma outra coisa nova esse filme pra mim. O único filme meu que eu vi em exibição pública foi Madame Satã, e foi horrível, porque arranhou a cópia (risos), parecia que tinha um gato pendurado na cópia. Eu só via umas cadeiras batendo. Depois desse dia, eu nunca sentei pra ver. A última vez que vejo meus filmes é na marcação de cor.
PAS: Isso é comum entre vocês diretores?
KA: Acho que sou meio louco, acho que sou eu, porque é um negócio tão precioso, toma aí que é seu. Eu não consigo entrar numa sala de cinema em que meu filme está passando.
PAS: Você nem entra?
KA: Não. Teve um, não sei qual foi, O Abismo ou O Céu de Suely, que eu entrei por trás, era um dia normal. Vi aquele negócio, aquele monte de gente sentada, e saí correndo. Talvez por conta da experiência do Madame Satã, por um monte de coisa. E nesse eu fiquei a exibição inteira.
PAS: Agora você mudou?
KA: Não, não mudei, não, acho que só neste filme eu fiquei. Morro de medo (gargalha). Aí fiquei, e é realmente muito impressionante. Claro que ninguém aqui é bobo, que isso é tudo calculado na dramaturgia. Mas fiquei muito impressionado como ele chega nas mulheres dessa maneira. Mas ele é melodrama, né? Melodrama está aí pra isso. Tinha uma outra coisa que eu ficava preocupado, porque é o primeiro filme que realmente é calculado no sentido da dramaturgia. Eu sempre tive um certo desrespeito a contar história, sempre foi uma coisa que sempre me interessou, mas sobre que eu sempre tive grandes dúvidas. Quando me perguntam o que esse filme tem de singular, é uma aposta num ato narrativo mesmo. Como é que um ato narrativo pode ser um ato que não me aprisione, mas que pode ser um ato… Quando a gente fala da proposta política do filme é isso, através de contar a história você pode de fato falar de uma pauta de maneira mais clara.
EN: Houve algum sacrifício em termos de fazer a adaptação do livro da Martha, por você ser Karim e não a escritora fazendo?
KA: Cara, eu não sei. Eu tenho algumas questões. Teve um trabalho mais de tradução que de adaptação. Não sei se você leu o livro, quando eu li fiquei muito encantado com as duas personagens. Mas, cara, era uma encrenca de adaptação. É um livro superbacana, mas se passa durante 70 anos. Ele vai passando décadas, no livro elas se encontram, ficam juntas depois, a Guida casa, é uma saga de família. Isso foi a primeira questão que pra mim foi complicada: como é que se traz isso? Era claramente um objeto que era melhor pra uma série que pra um filme. Era óbvio. Mas eu não gosto de série, não gosto de ver série, já fiz uma série na vida, foi legal, não é a minha. E eu queria muito fazer um filme com aquilo, então teve esse trabalho de como manter o DNA os personagens e conseguir de fato fazer uma outra tradução. Acho que me confundi, estou falando isso, mas você me perguntou outra coisa.
EN: Se a adaptação teve que mudar muito.
KA: Teve, teve. Teve muita pirueta que fiz, até a última versão de montagem. A gente tinha uma versão de montagem em janeiro que era de três horas e tanto, depois eu cortei 45 minutos. Pro roteiro já teve muita coisa que a gente teve que fazer, era um filme muito longo e depois a gente teve que enxugar muito pra tornar o que ele é hoje. Não foi uma adaptação fácil. Mas ao mesmo tempo, quando se fala da narrativa, as coisas estavam postas. Cada dia mais eu acho que fazer um roteiro original leva anos. Tem uma coisa da arquitetura que tem que ser colocada de maneira precisa pro negócio não ficar bambo. Aqui, de um lado, tinha um desafio grande, que é como eu ia limpando aquilo, como eu ia conseguindo deixar a alma dos personagens, mas construir uma outra trama. Uma coisa que foi uma loucura, por exemplo, que a gente resolveu na última versão do roteiro, é que a grande questão do livro é que a irmã some, ela fica procurando a irmã no Rio, não encontra e continua. Não tem como fazer isso no cinema. Eu dizia que tinha que ter um detetive, a única maneira que ela vai acreditar que a irmã não está aqui é se fizer uma investigação detetivesca.
A trama do filme tem um bafo de trama investigativa. Isso foi a coisa mais importante na tradução, que era como uma irmã procura a outra. No livro, por exemplo, ela não vai embora pra Grécia, ela casa com um cara no Rio de Janeiro, mas não fica de pé isso, porque ela acharia a irmã. Então teve uma série de coisas de trama, mas sempre com esse cuidado de ser fiel ao DNA dos personagens, por um lado, e de não ter medo de que algumas questões que são absolutamente íntimas, privadas, sobre a minha família pudessem contaminar o filme, por outro. Então eu me dei essa liberdade, tem falas que era minha avó que dizia. Não sei se essa fala ficou no filme, mas tinha uma fala bonita que dizia: quem de um homem escapa cem anos vive. Minha avó dizia sempre isso. Algumas coisas ficaram, algumas não, mas eu me dei muita liberdade de trazer, de me apropriar da matéria do filme, também das personagens, a que fui fidedigno, mas até a página dez. Foi muito importante colocar coisas ali que são da minha experiência. É isso também que faz o filme ser o que ele é. É um filme autobiográfico também.
PAS: Essa frase da sua avó é o filme, né? Não sei se é o livro também.
KA: É o filme, né? Ela me dizia isso rindo: “Meu filho, quem de um escapa cem anos vive” (risos). O marido foi embora me 1923, ela criou as duas filhas sozinha e não podia trabalhar, porque em todo lugar que ia conseguir emprego em Fortaleza ela era uma mulher separada. Virou costureira, porque tinha que trabalhar dentro do âmbito doméstico. Isso não está no filme que vocês viram. A Filomena (Bárbara Santos) costurava fantasias de Carnaval, isso não ficou muito no final. Claro que tinham coisas muito pessoais minhas, e é por isso que acho que resolvi esse problema do lugar do filme. Acho que, sim, eu tinha o direito de falar daquelas mulheres. Não sei se tenho o direito de falar das mulheres, mas daquelas mulheres, sim.
PAS: O que você está contando é que o roteiro mudou muito o livro. Não é uma adaptação fiel.
KA: Muito. Eu chamo de uma tradução do livro.
PAS: E a autora viu A Vida Invisível?
KA: Bicho, viu (risos). Vamos lá. Eu não podia falar isso na época de Cannes, porque ficava com medo que ela visse e detestasse. Ela viu o filme, a gente fez uma projeção pra ela depois do festival. E ela me escreveu super-emocionada, a gente se falou depois. Ela ficou muito feliz com o filme, acho que entendeu o que foi essa operação. Quando a gente estava filmando eu estava no Rio e entrei no Shopping Leblon, e Martha estava lá lançando o segundo livro. Não é que eu entrei por acaso, eu sabia que ela estava lá e fui dar um oi pra ela. A gente não tinha começado a filmar, ela olhou e disse pra mim: “Toda confiança em você”. Eu disse, meu Deus, eu não tenho a menor ideia do que ela está dizendo (risos), se ela soubesse a metade do que esse negócio mudou… Mas foi bom, porque eu mantive uma distância regulamentar, pra não entrar nesse embate, e também tinha um voto de confiança dela que foi superlegal. Fiquei surpreso, achei que ela ia ter questões. Mas não, ela foi superbacana. Acabou de me escrever, falou que os pais dela vão ver o filme lá em Fortaleza.
EN: Ela é de lá?
KA: Não, ela é do Rio, da Tijuca.
PAS: E os pais?
KA: Eles vão pra ver a primeira exibição no Brasil.
EN: Ah, no Cine Ceará.
KA: É, ela escreveu: “Cuida bem dos meus pais”. Pode deixar. Mas o que eu estava querendo dizer é que é a primeira vez que eu faço uma adaptação mesmo. Madame Satã é uma biografia, O Céu de Suely é uma adaptação de um fato real, O Abismo Prateado é uma adaptação de uma música, um roteiro completamente original. Pra mim foi muito bacana. Por mais que fosse uma rede que depois eu reteci inteira, tinham ali coisas dos personagens, dos pais, dos filhos de imigrantes, dos personagens dos pais que vinham de Portugal, do desejo de sucesso, muitos elementos que foram muito importantes pra gente chegar no resultado final.
EN: A Vida Invisível tem um caráter bastante universalista, não sei se você concorda ou não.
KA: Concordo.
EN: E suas obras geralmente têm muito o tom regional, o toque local. Você quis sair da zona de conforto?
KA: Cara, eu quis sair de um monte de zona de conforto nesse filme, um monte. Eu queria contar uma história. Nunca quis contar uma história, sempre fui tipo anarquista de contar história. Foi muito importante sair de um certo lugar. É engraçado você falar da coisa universalista. Acho que ele é universal, porque é um subgênero universal o melodrama. Mas eu ficava com muito medo. Quem filmou foi um francês, quando acabei de filmar eu mostrava pra algumas pessoas fora, a gente editou na Alemanha, “tem certeza que parece que está no Brasil?”. Porque às vezes parece que não é. Porque é um filme de época, tem um recorte ali. De um lado eu queria muito que fosse um filme que tivesse cheiro de Brasil, mas, sendo muito franco, acho que tem horas que ele tem e tem horas que não tem. Acho que ele tem um cheiro de artificial. Ele de fato aposta no artificialismo, não no naturalismo. Pra mim esse é um lugar que também eu já tinha feito de um jeito muito intuitivo no Madame Satã, que é zero naturalista.

Ele é um filme maior do que a vida, ele fala, grita, tem um registro de interpretação. Mas fiz muito intuitivamente, não foi um cálculo. E aqui, sim, eu queria muito fazer um filme que estivesse o tempo inteiro apostando em que aquilo é um espaço artificial, que não é um espaço real. Tinha uma preocupação, sempre que o ator entrava no set ele era borrifado o tempo inteiro, pra estar suado. A gente filmou no inverno no Rio, então tinha uma vontade de trazer uma coisa da natureza, que era muito importante na cidade do Rio, mas era difícil. Tem uma cena especificamente, quando Guida entrega o bebê na maternidade e sai pra dançar. É aquela fina linha, muito tênue, entre o naturalismo, de ter cor local, e ao mesmo tempo como é que se consegue construir uma fábula também. Fábula é um pouco pretensioso, mas acho que tem algo, que é um traço importante do melodrama, que é não apostar no naturalismo, que é apostar que aquilo ali é encenado.
Tinha uma coisa que eu ficava sempre muito preocupado: por que é que a novela não me interessa e o Douglas Sirk, (Rainer Werner) Fassbinder, o (Pedro) Almodóvar me interessam? Fui descobrindo que é o lugar da câmera. Ela nunca está olhando pra você, ela nunca é acrítica, ela sempre está entre uma coisa e outra. Ela está te vendo através de uma porta, entre você, espectador, e o que está acontecendo, que faz com que você não tenha completamente fé naquilo. Mas eu queria fazer um filme que tivesse uma cor local forte, e às vezes acho que tem, às vezes acho que não tem. Não tenho certeza, é até legal você trazer esse tema, porque era muito importante que fosse um filme que não pudesse se passar em qualquer lugar. Estou louco pra ver o filme em italiano. A Itália é o primeiro país onde vai ser lançado, vai ser dublado. Estou muito curioso de entender se ele também podia ser um filme italiano, pra testar um pouco esse limite.
EN: Pensei na universalidade porque você fala da questão das violências, basicamente contra as mulheres. Isso tem o lado brasileiro, mas não é tipicamente brasileiro. Passa pelos países europeus, americanos, orientais. Queria que você falasse sobre essa questão. Já estava no livro dessa forma, ou você evidenciou?
KA: Não, eu queria fazer um filme violento. Eu queria muito fazer um filme violento. Porque é muito violento aquilo ali. Era muito importante que a gente não fizesse um filme fofo. Não é fofo. É barra pesada.
PAS: É triste também.
KA: Eu fiz algumas entrevistas. Quando você for ver o filme sobre a minha avó, é muito bacana, como elas eram minhas tias e avó, e eu era um garoto, com uns 20 anos, elas falavam tudo pra mim. Você ouve coisas que são horrorosas, e elas falavam com muito humor. Uma tia disse: “Eu casei porque não queria ficar na casa do meu pai e da minha mãe. Nunca amei ninguém, esse negócio de amor, não sei o que é essa palavra. Eu casei com meu marido pra sair de casa e ter a minha casa, porque eu não queria ficar morando com meus pais“. Isso eu acho que não está no livro, entende? E eu me lembrava muito… Tinha alguma coisa do (Michael) Haneke que me interessa muito, no sentido da crueldade. É um comportamento cruel. Aí talvez me interessava não olhar pro melodrama como um gênero congelado. Tinha a questão da violência que era muito importante estar presente no filme, tanto a física como a psicológica.
É muito curioso você estar falando, porque quando estava em Cannes o filme foi vendido para alguns países, e um dos primeiros países foi a China. Encontrei com o distribuidor chinês, “incrível o filme”, você está falando sério? “É, eu queria até saber se os direitos estão livres pra fazer um remake.” Como assim, um remake, cara? “Um remake, porque acho que é uma história que vai bater de maneira muito contundente na sociedade chinesa, que é uma sociedade bastante conservadora.” Mais do que fazer um filme universal, acho que era muito importante – por isso que eu falo do negócio do político – fazer um filme que tratasse da situação, da condição feminina e do machismo como algo extremamente violento. Sempre que eu filmava eu dizia: gente, será que isso aqui está muito fofo? Não pode, é muito cruel o que essas pessoas passam. E ao mesmo tempo como é que se trabalha com ironia, né? O tempo inteiro era muito importante, por isso a escolha do Gregório Duvivier, por exemplo. E tinha uma outra questão, não é isso que você me perguntou, mas… Como é que você constrói os personagens masculinos num negócio desses? Aí é que está a encrenca. Porque o personagem feminino é aquele personagem que é asfixiado ali. Mas como os personagens masculinos têm vida e são seres humanos e não são simplesmente antagonistas no sentido esquemático?
PAS: Não vilões clássicos, de melodrama.
KA: Isso, exatamente. Esses eram os esforços, além da adaptação, de como se atualiza uma dramaturgia. Não sei se deu certo, sei lá, mas foi uma aposta que eu fiz. Por exemplo, no personagem do pai, que é um ator incrível, António Fonseca, que tem uma coisa meio flácida, muito violenta, e Gregório tem um negócio engraçado, que é meio abobalhado…
EN: Mas ao mesmo tempo asqueroso, né?
KA: Nossa, mas demais. Como é que você encontra esse lugar dos personagens? Tinha uma coisa de trabalhar o tempo inteiro com subtexto. O que você fala não é o que você está pensando. A Carol Duarte é muito impressionante nisso.
PAS: Mas queria que você desenvolvesse um pouco mais, o que se faz então com os personagens masculinos? O que sobra pra nós nesse filme?
KA: Cara, é muito curioso, esse roteiro passou por alguns editais e teve alguns nãos. E muitos argumentos era que ele era um filme androfóbico.
PAS: É, falaram isso?
KA: Puxa vida, como falaram isso. Mas foi bom terem falado isso, porque ele era androfóbico mesmo. Tinha uma vontade no começo que era isso, eles são uns filhos da puta, uns escrotos, é isso mesmo. Desculpa falar da minha vida, mas eu ficava pensando no meu pai. Ele casou com minha mãe, foi embora pra Argélia, eu fui criado sozinho, ele nunca apareceu aqui. Ele é um cara legal, conheci meu pai aos 20 anos, você vai sentar aqui com ele e ele é legal, muito educado.
EN: E foi canalha.
KA: Canalha, entendeu? Não tem outro jeito de chamar esse cara do que canalha. Mas aí, quando você vai adentrar no porquê… Jamais ele vai ser absolvido como não-canalha, ele será sempre canalha. Mas eu queria entender as razões da canalhice. Então nos primeiros editais eu tinha uma querida amiga e parceira que é a Nina Kopko, uma diretora jovem que foi minha diretora-assistente. Ela era meio a voz do feminino ali, quando eu não dava conta da subjetividade feminina eu estava perguntando pra ela. Eu dizia assim: quero fazer um filme que eles são vilões mesmo, canalhas, antagonistas clássicos, não quero nenhuma sutileza. Depois falei: mas é perigoso, porque aí você pode ter o efeito reverso, “olha como esse cara tratou os machos, eles são todos canalhas, isso é uma representação absurda”.
Fiquei com medo do oposto, então fui tentando encontrar o lugar onde eles, sim, são todos canalhas – não vamos botar panos quentes onde não precisamos -, mas era muito importante entender por que eles faziam aquilo. O pai pra mim era muito importante. Não no Brasil, mas fora do Brasil, eu sou filho de primeira geração de migrantes. Meu pai mora na França, eu vivi muito tempo lá, tem uma coisa que está muito no livro: a primeira geração tem que dar certo. Tem que dar certo, porque você colocou todas as suas fichas na imigração, foi pra aquele país novo, então aquelas meninas tinham que ser as princesas do Brasil. Fui tentando encontrar no específico de cada personagem.
A canalhice estava no DNA, mas como é que se encontrava o humano? Na cena em que Eurídice descobre que a irmã não morreu, em que o pai confessa tudo pra ela, a gente tem um plano no final que ela vai embora e ele fica olhando pra lápide, cai no chão e começa a chorar.
EN: Você cortou.
KA: Eu cortei. Falei não.
EN: “Não vou humanizar”, é isso?
KA: Vou humanizar até um certo lugar. Eu não quero vitimizar, é diferente. Porque você vê que a emoção dele está ali, ela vai embora, ele está encostado naquela parede, ele fala pra ela que foi pro bem da família. Eu estou vitimizando esse cara? Não, eu acho que ele também teve culpa. Foi muito difícil esse corte. E isso em tudo no filme. O Gregório, por exemplo, é muito engraçado, mas também não pode ser engraçado demais, senão fica irônico, fica cínico. Nada é cínico ali, acho que tudo tem que ser de verdade. Foi difícil, eu não sei muito bem na verdade. É uma pergunta maravilhosa, a sua.
PAS: Na verdade, esse é o seu lugar de fala. Você trabalhou ele dessa maneira que está descrevendo.
KA: É. Exatamente. Mas não foi fácil, nem sei se eu acertei. Estou tentando, fui tentando. Estou muito curioso, até agora ninguém viu o filme no Brasil. Não sei como ele vai ser digerido.
PAS: Estava pensando antes, na nossa sessão estávamos em cinco jornalistas. Quando a gente saiu, a reação instintiva foi olhar uns pras caras dos outros e perguntar: “Você chorou?” (risos). E eu não chorei, apesar de ter adorado. Por que eu não chorei se é um melodrama? Então ele também não é um melodrama, ou então eu estava nesse lugar desse canalha aí também. Talvez seja um filme incômodo pros homens.
KA: Isso é muito bom de ouvir. Não sei como esse filme vai bater. Nas mulheres eu já entendi, porque é tão sufocante aquilo que é óbvio que tem uma experiência catártica ali. Uma das coisas que tenho notado na temperatura do filme com o público é isso. Mas é maravilhoso de ouvir, porque eu não sei como vai bater nos homens. Mas eu espero que seja muito incômodo, no mínimo. Prefiro que ele seja incômodo do que seja frontalmente androfóbico, que foi o que politicamente comecei a entender no desenvolvimento.
PAS: Mas ele é pra chorar?
KA: Muito (risos). Ele é pra chorar muuuito. Mas deixa eu te falar outra coisa, quando você fala em uma aventura nova… Eu acho que tem de fazer alguma coisa com você. Tem que te incomodar, assombrar, chorar, cada um tem uma proposta diferente. Os gêneros estão aí porque calculam de uma maneira mais precisa. No mundo, existe uma crise gigante do capitalismo, uma crise gigante do modo que a gente vive, quando você fala da aventura nova, tinha que fazer um filme que mexesse com o público de algum jeito, que não fosse desdramatizado, contemplativo. Porque infelizmente a gente vive um momento urgente. Eu espero que, se ele não tenha te feito chorar – porque o cálculo era para chorar -, tenha te deixado incomodado em algum lugar, que você não saísse incólume. Outro dia estava até conversando com um amigo meu que disse que o filme é muito manipulador. É manipulador mesmo, mas tem de fazer isso com alguma graça, com alguma razão. Então estou muito curioso em entender as reações.
EN: Como você contextualiza A Vida Invisível dentro de sua carreira?
KA: Não sei, cara, isso eu já não sei. Sabe por quê?
EN: Porque ele parece representar uma certa ruptura, talvez, um novo Karim.
KA: Você acha?
PAS: Ele me lembra tanto o Madame Satã, tanto, tanto.
KA: Vou falar duas coisas muito francas. Eu não estudei cinema. Estudei teoria do cinema, arquitetura, arte contemporânea, fotografia. É muito curioso você estar colocando, eu te falo muito honestamente a minha escola, e eu fui muito sortudo de ter trabalhado no Brasil e feito os filmes que fiz. Fui aprendendo fazendo. Em todos os filmes fui experimentando e testando coisas. Confesso que quando fiz Madame Satã eu não sabia o que era lente 35, 50 (milímetros), era muito blefe. Mas eu tenho intuição. Isso eu sei que tenho. Então eu nunca pensei na minha carreira, na minha obra, acho um pouco louco, os filmes são diferentes. No Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo (2010, codirigido com Marcelo Gomes) queria fazer um filme com personagem ausente. No Céu de Suely queria experimentar uma personagem feminina baseada em uma experiência muito real, muito naturalista. Então não sei se é ruptura. De fato, é um filme que super conversa com Madame Satã. Mas eu acho que não seria ruptura, mas talvez o contrário, um acúmulo de coisas que fiz nos outros filmes, e aqui eu pude brincar com elas com um pouco mais de segurança.
EN: É um filme de maturidade, então?
KA: Acho que é. Acho horrível dizer isso, porque me sinto velho (risos). Vi o último filme do Almodóvar (Dor e Glória) e saí bem perturbado, muito comovido. E fiquei pensando nesse filme. Claro que, graças a Deus, tenho 20 anos a menos do que ele. Mas acho que é um filme de maturidade, sim, em que eu juntei um monte de coisas que fui aprendendo com os outros filmes. Mas tem algo novo: apostei que contar história pode ser algo produtivo. E eu sempre duvidei do fato de contar história, achava que era uma imposição anterior ao gesto de fazer um filme, de trabalhar um personagem.
PAS: Por que você acha isso? Você conta histórias também.
KA: Eu conto personagens, não sei se conto histórias tão bem assim. E eu queria neste filme começar a contar bem as histórias. Porque, falando de novo no político, acho que é importante falar com mais gente. Este filme vem desse lugar. Talvez seja uma ruptura, me lembro que quando fiz o primeiro filme não tinha isso na cabeça. Os primeiros filmes eram quase um roman à clef. Eu precisava dizer aquilo. Quando comecei a fazer cinema, fiz super 8, fiz vídeo, então não pensava em público. Era muito mais próximo da arte contemporânea, do gesto cinematográfico, do retrato do personagem, e me lembro quando li o texto da Laura Mulvey, Visual Pleasure and Narrative Cinema: narrativa é um ato ideológico. Mas, pra mim, era um ato aprisionador. Eu não queria que no minuto 23 tivesse um plot twist. Sempre tinha questões com isso. E o filme tem elementos que vêm do acúmulo de experiências dos outros filmes. Malandramente você vai aprendendo fazer coisas. Esse é o primeiro filme que preparo o elenco sozinho, com uma diretora-assistente, sem preparador de elenco. Mas entendi também que narrar é um ato moral, e não tem como fugir disso. Isso foi o que entendi fazendo este filme. E nos outros era como se eu fosse um punk que se recusava… Os outros contam histórias, mas eram fiapos narrativos.
EN: Mas algo que considero uma inteligência de A Vida Invisível é que você trata de questões fortes, que não são de agora, mas se recrudesceram nesse estágio incivilizatório do Brasil, e você faz isso sem buscar a polarização.
KA: Pois é, isso foi de propósito. Eu te confesso que foi uma coisa que procurei o tempo inteiro. A eleição de Bolsonaro foi um negócio muito louco pra mim – pra todo mundo, óbvio, pra quem tem minimamente sensibilidade sobre o mundo. E quando comecei a seguir esses sites eu me dei conta de que precisava falar com essas pessoas, mas sem ser chapa-branca. Bacurau é um filme incrível, acho todos os filmes, o filme da Bia (Los Silencios, de Beatriz Seigner) é político. Mas eu fiquei com medo que essa polarização não foi produtiva politicamente pra gente, nos dois últimos anos. O filme, então, não é chapa-branca. É um filme politicamente superimportante pra mim, mas é isso, como é que posso? O melodrama faz isso, por isso que apostei nesse gênero. Tem dois filmes que foram muito, muito importantes para mim neste filme. Um é o meu favorito de todos os tempos, O Medo Devora a Alma (1974), do Fassbinder, e Imitação da Vida (1959), do Sirk. São dois filmes politicamente contundentes, mas falam de outra maneira, sem entrar num discurso polarizador, que não tem sido produtivo politicamente.
PAS: Então você estava nos sites de direita aprendendo a dialogar com eles.
KA: Cara, eu sou fascinado com o MBL (Movimento Brasil Livre). Acho fascinante, uma loucura.
EN: Explica melhor (risos).
KA: Claro que eu não concordo com em nada com a agenda política deles. Mas você sabia que eles têm um PDF onde ensinam que letras se usa, todos os textos. Eles têm uma coisa de organização, de célula, de chegar para falar com o público de uma maneira. Como decifro isso pra você?
PAS: Você entrou espião no MBL pra saber essas coisas?
KA: Não, tem lá. O que eles falam da Amazônia é impressionante. Eles estão conversando com o público, e nós não. A gente entrou numa situação de conforto, com tanto tempo de governo de esquerda, que eu super estou junto, estou lá, faço Lula desde 1988, no ABC. Mas é muito importante não perder a relação com a base, e eu acho que a gente perdeu um pouco. O MBL é o contrário, quantas células eles têm no Brasil? São centenas de células. Claro que o MST (Movimento dos Sem-Terra), ninguém vai colocar isso em xeque, é um movimento importantíssimo. Mas fiquei entendendo como posso falar com essas pessoas, como posso falar não só com os meus iguais, mas também com os diferentes.
EN: Você diz falar, dialogar, mas como falar com Bolsonaro? Ele está enfrentando a classe do cinema e a artística, uma espécie de perseguição. Não sei se quer entrar nessa história.
KA: Claro que a gente entra.
PAS: Ele é como qualquer personagem masculino do filme.
KA: Eu não sei se tem como falar com ele. Temos como falar com um monte de gente, mas com ele é muito específico. A sensação que tenho é que se eu falar que este copo é amarelo (aponta para um copo amarelo), ele vai dizer que é vermelho. Eu vou dizer o quê? Então tenho dúvidas. Eu adoraria falar. Não é que eu adoraria, porque acho que é dar muito crédito. Mas seria interessante que ele visse o filme, seria interessante escutar o que ele tem a dizer. Mas estou mais interessado em falar com quem acreditou nele, do que com ele. O diálogo é mais importante. E aí vem a questão do desamparo. Na última eleição aconteceu uma coisa que me deixou muito preocupado, que é aquela coisa de votar com livro. Acho aquilo uma agressão, quantas pessoas no Brasil sabem ler? Quantas pessoas no Brasil podem comprar um livro?
EN: Você está falando de agressão do pessoal de esquerda para aqueles que não leem.
KA: É, é, eu comecei a tentar entender essa filigrana, é um lugar de elite tão complicado. Eu fiquei com tanta raiva quando vi aquilo. Vamos falar de coisas em que as pessoas possam se relacionar. O MBL encontra um lugar de empatia com o outro, que passa pelo lugar do desamparo. Respondendo sua pergunta, estou muito interessado em falar com todo mundo, isso é muito importante. Tem uma coisa que parece boba, não sei se viram a entrevista do Jordan Peele, quando ele fez Get Out (Corra!, 2017), em que ele fala com diversos diretores, e foi aí que fiz as pazes com a narrativa. Ele fala que contar uma história é a melhor maneira de convencer alguém de uma ideia. E foi aí que fiz as pazes, porque pra mim contar uma história era entrar numa camisa-de-força. E eu acho que não, quando você vê Get Out tem isso. Ele está falando de uma coisa que metaforicamente está muito clara, que o Bacurau faz muito bem. Vai lá no gênero do faroeste, da ficção científica, para falar de uma questão política muito clara. Eu queria muito dialogar com todo mundo, e acho que temos de ter muito cuidado, porque quem inventou esse binarismo foi a extrema direita. Não fomos nós. Então é muito importante não adentrar no jogo do outro.
EN: Mas o governo mobiliza o ódio e a raiva, porque você reage mais facimente ao ódio e à raiva. Só que A Vida Invisível não trabalha nessa clave.
KA: Não, prefiro que eu possa te ouvir. A gente precisava ouvir e incomodar o outro, sem que o outro saiba como está sendo incomodado. É um mecanismo pouco produtivo e arrogante, dos dois lados. Eu tenho um projeto sobre a igreja evangélica, que comecei há um tempão, e estou procurando entender se ele faz sentido ou não. Estudei muito as igrejas neopentecostais. Não dá para dizer que os caras são o cão. São (risos), mas tem que entender por que isso é tão atraente para as pessoas. Estou mais preocupado em entender o que seduz, como seduz, se posso usar essas armas de sedução pra gente. Sei que parece cafona dizer isso, pra gente ter um mundo minimamente mais igualitário em vez de eu simplesmente ficar batendo de frente. Isso é dar munição para o inimigo.
EN: Já parou pra pensar que filmes como Madame Satã e Praia do Futuro não aconteceriam hoje?
KA: Eles não aconteceriam, cara. Estou muito com vontade de lançar agora esse filme, e uma das ideias que estou falando com a distribuidora é que eu queria lançar de novo Madame Satã junto com o Vida, em película. É importante a gente entender de novo o que é película, o que é cinema no sentido original. Ia ser muito bonito.
PAS: Pode ser que aconteça?
KA: Eu quero fazer acontecer.
EN: Praia do Futuro, não?
KA: Acho que Praia do Futuro não seria produtivo agora, porque ele ia virar hipersequestrado. E Madame Satã é um personagem real. Acho mais inteligente. Porque você não vai dizer que foi criação da minha viadagem, entendeu? É um personagem que existiu, incontestável. E a reação negativa, de homofobia, do Madame Satã foi muito diferente do Praia do Futuro. Tem um menino que está fazendo um trabalho muito interessante, que é o Gustavo Vinagre, um trabalho bem de confrontação direta. É diferente dos meus filmes, e eu adoro os trabalhos dele, acho um cara muito importante. Mas, se eu tivesse 23 anos hoje, com o ambiente político, o mais perigoso é que eu nem pensaria em fazer Madame Satã, e acho isso muito triste. Sou um otimista patológico, ninguém fala disso, mas passei oito anos para fazer Madame Satã. Quando comecei a fazer, tinha 24 anos, e filmei com 32 ou mais. Foram oito anos de não. Não tinha dinheiro aqui, depois tinha. A Petrobrás não entrou, e quis entrar no final e eu falei “agora não entra mais”. Foi muito difícil de ser feito. Eu fico me perguntando se ele poderia ser feito hoje. Não é que naquela época foi fácil. Nunca foi fácil. Mas provavelmente ia ser muito difícil de ser feito, e por isso acho que deveria ser feito.
PAS: O filme é de 2002, e me lembro de que ganhei uma camiseta, e eu e outras pessoas tínhamos o maior orgulho de sair vestindo ela.
KA: Do Adriano Costa, um artista superbacana, que trabalhava na Ellus Second Floor. O Madame Satã era um personagem real, que cruzava, a questão identitária era totalmente explodida ali, ele acumulava uma série de camadas, era negro, analfabeto, viado, lutador, pobre, machista, um monte de coisas. Tinha uma coisa explosiva, que era muito cinematográfica.
PAS: Você quer encontrar os dois filmes por que vê uma irmandade neles? Tem o Rio como cenário, o jeito que você filma o Rio nos dois…
KA: Tem uma conversa. Tem o Rio. São dois filmes barrocos. Acho que passei um tempão tentando fazer filmes modernistas, e esses são filmes absolutamente barrocos, que talvez seja o que você fala. Eu gosto, eu sou assim. Eu fico tentando fazer um negócio às vezes, O Céu de Suely é um filme muito depurado. Este filme, por exemplo, eu gosto de música no cinema, de encher de música. Por que não? Este filme é um ato de maturidade, porque eu posso tudo. Se quiser botar música, boto, se não quiser não boto. E eu volto um pouco para o lugar do Madame Satã, que não foi um gesto, foi um grito. Eu não sabia nem o que estava gritando, mas eu precisava gritar. Aqui, eu não sei se estou gritando, mas tem um monte de coisas juntas ali. Não é um filme econômico.
EN: Karim, eu pesquisei, mas não encontrei muitas coisas sobre a sua biografia. Queria que falasse um pouco da infância…
KA: Cara, biografia é o seguinte, meu próximo filme é um pouco sobre isso.
PAS: Já sabe qual é?
KA: O próximo? Não, eu já filmei (risos). Estou com 53 anos, não tenho muito tempo pra sobrar aí, não. Estou numa bulimia louca, quero filmar sem parar. Meu próximo filme é o seguinte: minha mãe se chamava Iracema, cearense, era formada em agronomia, fez um mestrado em botânica, e era uma pesquisadora científica de bioquímica e fisiologia vegetal. Isso tudo no Ceará, na década de 1950, em Fortaleza. Minha mãe foi a primeira aluna mulher de agronomia. Ela foi para os Estados Unidos em 1960, com uma bolsa da Fullbright, em Wiscosin, e conhece meu pai em Washington.
EN: Argelino?
KA: Meu pai estava fugindo da guerra. Meu avô estava no movimento contra a França, e meu pai, filho mais velho, e na época o Kennedy começou a flertar. Isso foi antes do Kennedy, mas os americanos começaram a flertar com a Argélia e com os movimentos de liberação nacional. Ele vai morar nos Estados Unidos, eles se conhecem, se casam, minha mãe fica grávida em 1965. A Argélia já tinha vencido a guerra contra a França, em 1962, e a ideia era que eles iriam embora dos Estados Unidos pra morar na Argélia. Era o lugar mais incrível do mundo, estava bombando, tipo Havana, a meca da revolução. Meu pai vai, mas minha mãe vem para o Brasil para eu nascer em Fortaleza, e o meu pai nunca vem. Meu pai fica na Argélia e eu sou criado pela minha mãe. Eu conheci meu pai com 18 anos, na França. Meu pai ficou na Argélia até 1974.
EN: Não mantinham contato?
KA: Ele me escrevia. Trabalhava com construção de estradas, depois da independência, e me escrevia do mundo inteiro, porque a Argélia tinha relações com os países do eixo comunista. Tinha um contato, mas ele nunca foi a Fortaleza. Conheci ele em Paris, quando tinha 19 anos, em 1985.
EN: Você não teve uma infância pobre?
KA: Não, sou classe média. Minha mãe era professora universitária, morávamos numa casa alugada. Depois ela conseguiu um financiamento na Caixa, comprou uma casa de três quartos num bairro bom. Minha avó foi pobre, minha mãe tinha um emprego numa autarquia federal, um salário. Sou filho único. Minha mãe nunca casou de novo. Ela chegou com um outro nome, que era o nome do meu pai, com um pai que nunca apareceu. É muito parecido com a história da Guida. Fui criado pela minha mãe, conheci meu pai, morei na França quando era adolescente, dois anos, foi horrível. Quando cheguei na França, virei Karim. Sabe quando você vira árabe de uma hora pra outra? Eu nem sabia o que era árabe, e nem sou árabe. Meu pai é bérbere. Foi uma confusão, fiquei muito raivoso. Voltei ao Brasil e ganhei uma bolsa para os Estados Unidos, para fazer mestrado em arquitetura. E fiquei e comecei a fazer cinema. Morei em Nova York entre 1988 e 2003.
PAS: Hoje você mora em Berlim?
KA: Estou em Berlim há dez anos. Tenho passaporte francês por causa do meu pai. Tinha greencard. Era casado com a Suzy Capó. E agora estou querendo um passaporte argelino. O filme novo que estou fazendo agora é exatamente isso. Eu nunca fui para Argélia. Na década de 1990 a Argélia teve uma guerra civil gigante, era supercomplicado, era muito perigoso ir pra Argélia. E eu nunca fui convidado por eu pai pra ir. Também nunca quis ir, porque pra minha mãe era complicado. E eu fui neste ano pela primeira vez, aí filmei a minha viagem. Peguei um navio em Marselha, porque ela sempre me dizia que tinha de chegar em Argel de barco. Aí fiz uma viagem até o vilarejo do meu pai.
EN: É documental?
KA: É, é um filme super autobiográfico, sobre a história deles, sobre a revolução. O encontro deles é superbonito, quando um argelino ia encontrar uma cearense e se apaixonar? É uma coisa que acontece na década de 1960, uma década que permitia isso. Quando cheguei na Argélia estava havendo movimentos de redemocratização muito impressionantes. Dei muita sorte. Estou montando esse filme.
PAS: Você está há dez anos em Berlim, e continua fazendo filmes brasileiros.
KA: Acho uma coisa bacana de falar, nos últimos cinco anos tenho ido muito a Fortaleza. Primeiro que sempre fui muito por conta da minha mãe e da minha avó. Aí perdi minha avó, fiquei cuidando da minha mãe, durante muito tempo. E com o Sérgio Machado e o Marcelo Gomes montei um laboratório de roteiro dentro de uma escola pública. Então vou para Fortaleza umas seis vezes por ano, às vezes um pouco mais. A gente sempre seleciona seis autores, que acompanhamos durante um ano num curso de roteiro. Tenho o apartamento da minha mãe lá hoje em dia. Eu venho muito mais pra lá do que pra cá. Sabe aquele voo da TAP que faz Lisboa a Fortaleza? Quando venho ao Brasil, prefiro ficar lá, e tem sido superbacana assim. Tenho podido trocar um pouco do que aprendi, com o que aprendi nesses últimos anos.
PAS: Essa ideia de A Vida Invisível estrear no Ceará tem a ver com isso?
KA: Tem super a ver, tem a ver com jogar uma luz nessas escolas. Tem uma geração de gente que está sendo treinada pela gente, que é superbacana. E eu queria prestigiar o Cine Ceará, o Nordeste é um lugar de resistência. Acho importante lançar o filme lá, no Nordeste, apesar de ter sido feito no Rio.
EN: Você falou do Nordeste como um lugar de resistência. Como está vendo isso? É positivo?
KA: Eu fui criado em Fortaleza, tinha poucos voos, era um lugar muito isolado. Não saí de lá à toa. Foi por várias outras questões também, mas não tinha escola de cinema, mas eu fiquei em Nova York por causa disso. É muito impressionante o que está acontecendo em Pernambuco, e está acontecendo porque tem um edital de cinema lá há mais de 15 anos. É a confirmação de um monte de políticas públicas que estão acontecendo no Maranhão, em Pernambuco, no Ceará, na Bahia. O governo do PT permitiu uma descentralização gigante do audiovisual. A gente sempre teve uma produção cultural incrível, na literatura, na música, mas especificamente no cinema é um momento muito importante. Pernambucano, indiscutivelmente, mas no Ceará vão acontecer coisas importantes nos próximos anos. Muitos dos projetos que acompanhamos estão sendo filmados agora. Tem um filme do Ceará que ganhou o Festival de Gramado na semana passada (Pacarrete), eu não vi ainda. Acho importante celebrar isso.
PAS: Ceará é o próximo Pernambuco?
KA: Ceará já é Pernambuco (risos). Tem sido muito legal. Muitos dos roteiros que a gente acompanhou estão entre nesses laboratórios de roteiros, no Brasil BR, BR Lab, Novas Histórias. De cinco, geralmente tem dois cearenses. Tem um negócio sendo forjado que é bem bonito. Essa coisa de estar fora, eu saí do Brasil com 18 anos, tem a ver porque sempre me senti também brasileiro. Ter um pai que não sabia direito de onde vinha direito sempre me fez querer entender o que era o mundo.
PAS: Isso que eu tinha perguntado: você não deixa de fazer filmes brasileiros nunca.
KA: Não, não dá, é uma possessão. Mas, na verdade, eu fiz dois filmes fora agora. Fiz o filme do aeroporto, que filmei na Alemanha. Não estava nos meus planos, mas era um lugar o lado da minha casa. Depois filmei na Argélia, e provavelmente no ano que vem filmo no Japão, também sobre um personagem brasileiro que vai para o Japão como dekassegui, na década de 1990. Que nasceu aqui, mas foi criado lá. É ficção, baseado num fato real, no livro Favela High Tech (1993, de Marco Lacerda). É um thriller de crime, meio Bonnie & Clyde.
PAS: Qual será o próximo a sair?
KA: Estou montando o filme da Argélia. Depois que terminei Praia, foi uma época muito foda, perdi minha mãe, perdi minha avó, e fiquei com muito medo de não filmar. Falei: “Cara, será que vou conseguir filmar ainda?”. Aí comecei a desenvolver muitos projetos. Então, objetivamente, estou fazendo o filme na Argélia. Estou trabalhando no roteiro do filme do Japão há mais de oito anos. Acho que a gente conseguiu financiar pra filmar no ano que vem. E estou provavelmente fazendo uma adaptação do livro do Geovani Martins (O Sol na Cabeça, 2018), no Rio. É uma loucura, eu prometi que nunca mais ia filmar no Rio, mas estou lá de novo.
EN: Por quê?
KA: Eu tenho uma relação com o Rio que não é exatamente a melhor do mundo.
PAS: Eu estava querendo perguntar isso o tempo inteiro, é estranha sua relação com o Rio, tanto em Madame Satã quando em A Vida Invisível.
KA: É estranhíssimo, uma loucura. É meu terceiro filme no Rio, indo para o quarto.
PAS: Você filma de um jeito muito particular, pelo subúrbio.
KA: Este filme tinha algumas regras, uma era não filmar na zona sul. Eu tinha feito filme em Copacana, o Madame Satã tinha sido no centro. É uma cidade com que tenho uma relação de amor e ódio. Me sinto muito mais feliz quando estou em São Paulo, que é uma cidade grande com gente do mundo inteiro. Mas os projetos vão vindo, e esse do Geovani é muito importante. É um livro muito bonito, são histórias curtas. São 13 contos, e estamos adaptando dois pra fazer na Rocinha. Quero muito filmar na Rocinha.
PAS: Você já contou três próximos fimes.
KA: Tem mais (risos).
PAS: A questão gay volta em algum momento?
KA: Cara, tem um projeto que queria muito filmar, mas acho que não é tão cedo que vou fazer. Na verdade, eu fico voltando para os curtas. Eu fiz um curta em 1994, que se chama Paixão Nacional, adaptação de um diário de um argentino chamado Tulio Carella, um livro que se chama Orgia. Ele era um dramaturgo argentino que vai morar no Recife em 1962, e é preso em 1964, 1963, acusado de fazer parte das Ligas Camponesas. Na verdade, não tinha nada disso. Ele era um cara que recebia um monte de homem em seu apartamento, então achavam que ele era comunista. Ele é torturado, é expulso do Brasil e publica os seus diários nesses anos que passa no Recife. É um filme que queria muito fazer, mas não agora, daqui a alguns anos. Tem um roteiro escrito. Eu queria também agora ficar um pouco aberto. Quero curtir o Vida, acho importante. Ainda mais depois do que aconteceu hoje, mas independente, quero acompanhar a vida do filme fora. E em um trabalho de lançamento gigante pra fazer aqui.
EN: Quais são as suas referências cinematográficas?
KA: Quando estudava em Brasília, fazia arquitetura, eu era rato de cineclube. Sabe aqueles cineclubes que passavam a obra de (Werner) Herzog, a obra de (Michelangelo) Antonioni? O cinema europeu foi uma fonte muito importante pra mim, principalmente o Antonioni e o Fassbinder. Depois, nos Estados Unidos, eu morava numa rua que do lado tinha uma loja de vídeo, Kim’s Video, legendária em Nova York, que classificava os filmes por gênero, por país, foi uma escola muito importante. Estudei muito teoria do cinema, quando fiz mestrado. Estudei muito o cinema noir. Meu mestrado é sobre cinema de ensaio, estudei coletivos cinematográficos na Inglaterra nos anos 1980 – pode parecer meio louco -, os esforços para montar coletivos cinematográficos de filhos de imigrantes. No cinema brasileiro, sou muito fã do Nelson (Pereira dos Santos), acho Vidas Secas (1963) um negócio do outro mundo. Adoro A Hora da Estrela (1985, de Suzana Amaral). O Bandido da Luz Vermelha (1968, Rogério Sganzerla) é um negócio impressionante. Não sou muito fã do Glauber (Rocha). Gosto, mas tem uma coisa masculina que me incomoda um pouco.
EN: Você falou há pouco que séries não lhe apetecem. O cinema está flertando muito com o streaming. Esse é um mundo que você não procura muito?
KA: Não, não me interesso por ele. Acho incrível. Aprendi muito. Fazer série é quase um serviço civil. Você deixa de falar de suas questões, você está a serviço de uma obra. E eu acho que fiz isso quando fiz Alice no Brasil, em 2008. Foi ótimo, acho que saí outra pessoa depois que fiz Alice. Fiquei sete meses num set de filmagem. Mas, cara, eu jamais seria um bom cozinheiro de uma comida que eu não gosto. Eu não tenho paciência pra sentar e ver uma série de televisão. Uma série leva no mínimo uns três anos para ficar boa, tem que ter um desenvolvimento super-apurado, e eu não tenho esse tempo. Meu formato é o longa-metragem. Por isso que fiz o Vida. Claro que podia ter feito uma série com o Vida. Mas não era para mim. São formatos de dramaturgia muito distintos. A série está sempre dentro de uma perspectiva de hipernarrativa. Quando eu falo de minha paixão por narrativa, eu também tenho uma paixão por detonar narrativa. Acho que na série é muito difícil ter essa dinâmica. E tem uma certa fascinação por série de TV que, cara, tem séries de TV que são incríveis, mas elas custam caro. Quando fiz Alice, foi maravilhoso, tive uma liberdade gigante da HBO, a gente filmou em película. Mas eram dez dias de filmagem para episódio, uma gincana. É muito concreto, prefiro filmar três páginas por dia do que filmar oito. Não acho que filmar oito é ruim, pode ser incrível, mas é um esporte no qual não sou tão bom.
PAS: Faltou perguntar se tem algo de rodrigueano em A Vida Invisível.
KA: Amo, meu sonho era adaptar Nelson Rodrigues. Amo, amo, amo. Meu sonho era adaptar O Casamento, ou Toda Nudez Será Castigada, “Herculano!”, sou apaixonado. É um dos sonhos que ainda quero realizar. Mas fiquei me perguntando, depois que fiz o Vida, qual a relevância de fazer o Nelson hoje, de falar sobre aquela moral. (Karim tem de sair para fazer uma entrevista ao vivo.) Gente, a gente passou por tudo?
PAS: Nós não falamos de dona Fernanda Montenegro.
KA: Todo mundo está falando (risos), a gente falou de outras coisas. Foi incrível, eu nunca achei que ela fosse fazer. Quando sentei com ela para falar do filme, num hotel, passamos três horas. Era na época da prisão do Lula, ficamos falando de política. Aí pensei: já sei, ela está me enrolando, não vai querer fazer o filme, está só me dando uma atenção. E daí ela aceitou. Foi superlegal. E hoje ela foi a primeira pessoa que me ligou. Não sei, ela parece muito com minha mãe. Elas nasceram no mesmo ano, tem uma energia muito parecida. Minha mãe era braba, Fernanda não é exatamente braba, mas tem… E foi a primeira pessoa que me ligou pra dar os parabéns, viu na internet.