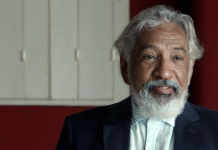Ser nordestino no Brasil significa conviver no dia a dia com pequenos preconceitos que, colecionados, podem se transformar em cinema grande. É o que conta o diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho sobre as origens de Bacurau, sensação da temporada que estreia nos cinemas brasileiros neste 29 de agosto. Desde 2009, Kleber e o co-diretor também pernambucano Juliano Dornelles trabalhavam essa ideia inicial e o roteiro, que se viu ultrapassado na linha cronológica por O Som ao Redor (2013) e Aquarius (2016), até ser finalmente filmado, entre março e maio do ano passado. Na verdade nada pequenos, os preconceitos e as discriminações contra os nordestinos e contra as pessoas ditas “simples” foram os detonadores dos argumentos que irrompem de forma explosiva e violenta na cena nordestina, brasileira e terrestre de Bacurau.
Os diretores, parceiros desde 2004, espantam-se com outro atropelo, o da realidade sobre um filme que inicialmente fora pensado como fantasia absurda. Lembram que, depois de pronto o roteiro, Donald Trump, inicialmente uma piada de mau gosto, foi eleito presidente dos Estados Unidos e tornou Bacurau um pouco menos irreal. Durante as filmagens, Jair Bolsonaro, pré-facada, parecia outra piada de mau gosto que a dura vida real, mais uma vez, transformou em pesadelo dramaticamente palpável. De filme futurista de distopia fascista, Bacurau foi cada vez mais se aproximando de uma alegoria sobre o seu próprio tempo, à maneira do que já acontecera antes com Aquarius. Entre a grossa distopia e a pura utopia, Bacurau (como Aquarius) guarda um travo de otimismo que parece ser um modo à nordestina de enfrentar alguns dos mais trágicos momentos da história do Brasil.
Na entrevista a seguir, Kleber Mendonça Filho, de 51 anos, e Juliano Dornelles, de 39, revelam um pouco sobre as intenções e o trabalho por trás de Bacurau, que disputa com A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, do cearense Karim Aïnouz, as atenções numa temporada especialmente inspirada do cinema brasileiro, vida real à parte.

Pedro Alexandre Sanches: Por que Bacurau é um filme dirigido por duas pessoas?
O jornalismo cultural de Farofafá precisa do seu apoio! Colabore!
QUERO APOIARJuliano Dornelles: A gente estava conversando sobre uma ideia boa para um filme, e a gente estava junto. Nunca foi nenhuma questão, desde o início, lá atrás, no final de 2009.
Kleber Mendonça Filho: Isso mostra também que a gente tinha já uma relação muito boa de amizade e confiança, porque você não embarca num negócio desses com uma pessoa que não deveria. Na história do cinema pessoas entram em desacordo e brigam, mas não parecia ter nenhum terreno pra pensar isso. A gente continua trabalhando, estamos firmes aqui, viajando para vários lugares, e está tudo certo.
PAS: Em O Som ao Redor (2013) e Aquarius (2016) Juliano era diretor de arte, certo?
KMF: Sim.
JD: A gente fez muito mais coisa, além dos dois longas. Trabalhamos juntos desde 2004. Temos uma relação de amizade também muito boa.
KMF: Ele era diretor de arte, mas é amigo. Você mostra um roteiro, mostra uma cena, ao longo de vários anos. Eu chamava pra ver os primeiros cortes, o ouvia muito. São participações que não se restringem à direção de arte exatamente. Juliano trazia coisas, ideias, reações. Às vezes só uma reação, um muxoxo, já te ajuda muito. Existe um grupo de amigos, de que participam também Pedro Sotero, o fotógrafo, alguns atores.
PAS: Todos pernambucanos?
JD: Sim.
KMF: Todos pernambucanos, não. O núcleo são todos pernambucanos, mas a gente tem alguns amigos. Por exemplo, tenho uma pessoa que confio muito na reação dele, que é um amigo da Inglaterra, Lawrence, que é crítico.
PAS: Entre os atores há uma variedade maior…
KMF: Há uma variedade, é. Porque às vezes você consegue voltar a trabalhar com um ator, mas o filme não quer aquela pessoa. Não é você, é o filme que não quer. Alguns atores estão em alguns filmes, mas noutros não estão, e aí fica sempre chegando gente nova. Mas alguém como o Juliano, a gente está junto porque viemos trabalhando juntos, a gente é muito amigo e se gosta muito. Essa parceria é perfeita, muito tranquila, muito pacífica.
PAS: O fato de ser nordestinos, para vocês, queiram ou não, os coloca numa situação de resistência dentro do Brasil.
KMF: Sim.
PAS: Como vocês têm lidado com isso?
KMF: Essa pergunta é muito boa, mas muito abrangente. Nós somos pernambucanos. Eu fui nascido e criado em Pernambuco, mas aos 13 anos fui morar na Inglaterra com minha mãe, que foi fazer um doutorado, e voltei com 18. Juliano é filho de gaúcha, mas é pernambucano. Ao longo da vida, eu percebi que há um campo de força ao redor do Nordeste, que traz questões antigas no nosso país: divisão de renda, questões sociais, raciais, culturais. Ao longo da vida, eu colecionei pequenos incidentes. Nada grave. Pequenos incidentes. Há alguma coisa, há uma certa dificuldade de você estar nordestino.
PAS: Citaria algum exemplo?
KMF: Um grande exemplo, que ouvi algumas vezes…
JD: Eu já conto essa história como se tivesse acontecido comigo. Mas eu tenho histórias também. Convivi muito com a minha família gaúcha, então são as mesmas histórias, você pode imaginar.
KMF: De chegar no Copacabana Palace para fazer uma junket como jornalista, cobrindo a área de cinema como crítico, ser recebido por duas assessoras de imprensa de São Paulo, de uma major. Eu me apresento, “bem-vindo, Kleber, você vai precisar de tradução, né?”. “Não, não, eu falo inglês.” “Ah, legal, pessoal de Recife falando inglês!” É pequeno, mas é muita, muita coisa.
JD: Isso porque a gente é homem, branco, heterossexual, classe média. Imagine só.
PAS: Há uma analogia com ser negro? Ele sabe que em toda ocasião vai sofrer uma coisinha pequena dessas.
KMF: É, tipo, você está chegando num hotel e o cara vem e entrega a chave do carro. Isso já foi retratado em filme e já aconteceu na minha frente, no Rio de Janeiro. Não comigo, com um cara que era negro e estava chegando.
JD: Imagina eu indo visitar a família em Porto Alegre, jantando junto, e o sotaque, a pessoa falando com o sotaque, tentando me convencer a torcer pelo Grêmio. São coisas muito sutis, mas você vê que existem.
KMF: Tudo bem, é a tal da vida no Brasil. E eu acho que isso precisa ser retratado, isso precisa ser addressed num filme, num livro. Faz parte da vida brasileira.
PAS: E num momento muito agudo agora, porque estão acontecendo muitos mais episódios.
KMF: Pois é, mas é curioso. Durante muitos anos, eu realmente sentia uma queda nesse tipo de incidente. Mas comecei a perceber algo estranho, como se fosse uma volta ao passado, na reeleição de Dilma Rousseff, em 2014. Quando ela foi reeleita, houve uma onda muito forte de ódio nas redes sociais contra os nordestinos. Foi uma coisa muito estranha, porque eu achava que aquilo tinha caído em desuso, como se de repente você visse pessoas com celulares Motorola grandes, dos anos 1990. O que está havendo? Foi aí que eu achei que tinha um primeiro sinal de que alguma coisa estava errada. Com o golpe e com os desenvolvimentos seguintes, a gente tem percebido isso cada vez mais. E aí o filme chega meio que para fechar com isso.
PAS: Num momento em que Jair Bolsonaro está exercendo o preconceito dele abertamente, às claras.
KMF: Pois é, de uma maneira jocosa, que é a forma como a garota agiu comigo.
JD: É a forma difundida desde o início de tudo, desde sempre. Sempre foi assim. Inofensiva, “ah, isso não tem problema, é besteira”.
KMF: Há um retorno a algumas coisas que eu tinha perdido de vista, e isso me perturba.
PAS: Quando o Bacurau entra? No meio desse processo, ou já tinha começado?
KMF: Bacurau começou em 2009, e ele já era um filme sobre…
JD: Partiu de outro incômodo muito parecido, mas não igual.
KMF: Mas é a mesma raiz.
JD: A mesma raiz.
PAS: Qual?
JD: A gente estava num festival de cinema e viu vários documentários, uns bons, uns ruins.
KMD: Estávamos com Recife Frio (2009), a estreia.
JD: É, tinha uns documentários com uma pegada etnográfica. Os caras vão para o lugar lá no fim do Brasil, nos confins. E aí tem aquelas pessoas simples (faz sinal de aspas com as mãos). Começa daí a errar.
KMF: O filme é bem intencionado, mas eles mostram as pessoas como “simples”.
JD: Quem é simples, né?, pelo amor de Deus. E vai se somando. Alguns escalam a escalada para esse tipo de preconceito e condescendência. Vai aumentando. Outros, não, fica ali sob controle, mas você já sentiu. A gente estava falando sobre isso.
KMF: Mas essa visão sobre as pessoas “simples” acontece em qualquer país. Nos Estados Unidos o nova-iorquino fala do pessoal do deep south Alabama desse jeito.
JD: Exatamente, só que acontece que a gente é brasileiro, estava vendo os cineastas fazendo isso, repetindo esse modelo.
KMF: Essa foi a chave, porque não era a televisão comercial fazendo isso, que é básico.
JD: Daí a gente não espera nada de bom.
PAS: Novela das nove.
JD: Exatamente.
KMF: Eram pessoas legais, fazendo filmes… Não sei qual a palavra.
JD: É difícil definir, de fato.
KMF: Filmes, não sei, de esquerda, humanistas…
JD: Soma-se à energia que a gente estava de ter feito Recife Frio, que é muito engraçado, é um filme que tira onda, um filme de ficção científica, um falso documentário. A gente estava nessa energia de fazer um filme de gênero, e aí juntaram as duas coisas. Os bons filmes de gênero geralmente têm uma carga de crítica social muito forte. Aí isso pareceu um bom caminho para um novo filme.
PAS: Vamos ver se eu entendi, ele era inicialmente um filme para tratar sobre o preconceito contra as pessoa ditas “simples”, e acabou virando sobre os nordestinos?
JD: É, uma espécie de “não, não, não, não é assim, não, meu velho, nem vem”.
KMF: Tinha um filme que inclusive a gente reviu agora voltando da Austrália, o Crocodile Dundee (1986), uma comédia que envelheceu mal. A gente sempre falava de uma cena nesse filme, que era uma jornalista americana, na Austrália, outback.
JD: O sertão da Austrália.
KMF: Ela conhece o Crocodile Dundee, que apresenta a ela um amigo aborígene. E ela está com a câmera dela, olha para o aborígene, vai tirar uma foto, e ele: “Não!”. Ela diz: “Você não quer que eu roube sua alma?”. Ele: “Não, a tampa está na lente”. Era um pouco isso a vibe que acho que ainda está em Bacurau, nada tão engraçado, mas…
JD: Completamente. A cena do Carranca (personagem do músico e ator cearense Rodger Rogério) é muito isso. Os forasteiros chegam, “toma um dinheirinho aí”, e ele vai dando rasteiras nos caras, uma atrás da outra. Essa é a energia inicial de tudo.
PAS: O roteiro foi trabalhado de 2009 até quando?
KMF: Foi trabalhado durante a nossa vida pessoal, inclusive tendo filhos, durante O Som ao Redor, produção e montagem, durante um ano, escrita de Aquarius, tudo. Bacurau sempre estava presente na vida da gente. Tipo, mês que vem vamos voltar para Bacurau. Só que depois do Aquarius foi o momento de realmente voltar full time. E nesse momento nós já estávamos no que chamo desse abandono gradual da rota democrática. E algo muito estranho começou a acontecer nos Estados Unidos. O Donald Trump começou a parecer uma possibilidade.
JD: A gente ia começando a conhecer Donald Trump melhor. Começou a ver as coisas que ele falava, o comportamento.
KMF: Que décadas antes seria inaceitável.
PAS: Nesse momento já existia a questão dos norte-americanos no filme?
KMF: Isso, e começou a impactar. Só que o filme, antes do Trump, era muito mais absurdo do que o filme pós-Trump. Isso que eu fiquei preocupado. O que a gente sempre fala é que, normalmente, você, quando escreve um livro ou roteiro, se isola. Bacurau não. A gente estava sempre muito ligado.
JD: On line.
KMF: On line. Redes sociais, Folha, New York Times, imprensa mundial, Twitter. Isso foi alimentando a gente de uma maneira, foi dando um grau de absurdo que o mundo está. Então a gente foi regulando o volume do roteiro dependendo… Trump elevou muito o grau de absurdo do roteiro.
PAS: E acredito que Bolsonaro mais ainda.
JD: Mas quando chegou Bolsonaro o filme já existia.
KMF: Aí o filme já tinha sido filmado. Quando a gente terminou, em maio do ano passado, Bolsonaro não era uma possibilidade.
JD: Era uma piada.
KMF: Como o Trump era.
JD: Isso não vai decolar.
PAS: Até acontecer a facada, era inacreditável.
JD: Na facada já estava superperigoso.
PAS: Mas quer dizer, vocês filmaram antes da facada.
JD: Sim, sim, sim.
KMF: Nós filmamos entre março e maio.
JD: Quando a gente filmou, Bolsonaro tinha 15% das intenções de voto, 15% de doidinhos que estavam soterrados em ódio.
PAS: O cinema de vocês tem tido uma questão de timing que é impressionante, Aquarius tem um timing que parece que poucas vezes na vida vai ser repetido.
JD: Repetiu agora (ri).
PAS: Sim, isso que eu ia falar.
KMF: Quando filmei Aquarius, quando estava no set, eu falava para os amigos que o impeachment era extremamente improvável. Eu achava que o Brasil já tinha passado para um outro nível de compreensão da democracia. Hoje posso dizer que fui bobo. Será que fui bobo ou será que o Brasil foi todo reconfigurado? Mas na filmagem de Aquarius eu nunca imaginei. E um ano depois, o filme estreou em 1 de setembro, e em 31 de agosto ela foi expulsa do Palácio do Planalto.
PAS: Me impressiona muito que Dilma tinha dito que a democracia estava sendo roída por cupins (Dilma usava a expressão “parasitas”). Ela já tinha visto o filme, ou foi coincidência?
KMF: Não, não, ela não tinha visto. Ela falou isso em junho.
JD: É bem impressionante.
PAS: E agora, como vocês sentem o timing? É trágico, porque você vai ver um filme de distopia e é o dia a dia que a gente está vivendo.
JD: A gente estava brincando… Perto de terminar o filme, em abril, já para mandar para Cannes, a gente colocou a frase no início, “daqui a alguns anos”. Será que não troca para “daqui a alguns meses”?
KMF: “Daqui a algumas horas.”
JD: Porra. É uma sequência de noticias que eram relacionadas diretamente às cenas que a gente estava editando.
KMF: Hoje (dia 19 de agosto) teve um incidente que eu gostaria de relatar aqui, até para eu exorcizar um pouco. A gente passou uma hora e meia no Estúdio CBN, ao vivo, foi uma experiência muito boa, achei os profissionais muito de bom nível.
JD: Eu também.
KMF: Teve uma observação muito profunda da Tatiana (Vasconcellos), que de maneira muito inesperada me derrubou emocionalmente.
JD: Nos derrubou.
KMF: Foi, eu não conseguia falar. Fiquei totalmente emocionado. Rolou um clima muito estranho.
JD: Ela já tinha começado a falar coisas que normalmente nenhum jornalista chegava para falar. Falou sobre a simbologia de uma placa do carro que tem escrito Brasil, no modelo novo que vai começar a ser implantado, indo embora. O Brasil indo embora, o carro dispara.
KMF: Ninguém nunca tinha falado isso.
JD: Pois é, a gente, “opa, essa menina é interessante”.
KMF: Só que aí ela foi para o segundo nível. Ela falou de uma frase que é repetida três vezes no filme, “por que vocês estão fazendo isso?”.
JD: Os bacurauenses perguntam aos invasores.
KMF: Sempre perguntam, “por que vocês estão fazendo isso?”. Na terceira vez, Sonia Braga pergunta a Udo Kier.
JD: Importante dizer: ou eles não respondem ou eles não sabem responder.
KMF: Aí essa jornalista diz que lembrou do garoto na Maré que foi assassinado e perguntou “porque vocês estão atirando em mim?”. A gente estava ao vivo lá.
JD: Paralisia facial, sabe como é? Foda.
KMF: Muita gente fala sobre Bacurau ser uma comunidade do sertão, do Nordeste. Mas na verdade as pessoas já estão começando a falar no Twitter que também é sobre as comunidades e as favelas.
PAS: Quilombolas, tribos indígenas…
JD: O homem coletivo sente a necessidade de lutar. É de Chico Science essa frase, a gente quase usa.
PAS: Nesse sentido o filme é utópico?
KMF: Acho maravilhoso o Chico, mas acho muito forte falar isso.
JD: Não, claro, mas é exatamente isso. Bacurau é o homem coletivo lutando. Nas favelas é a mesma coisa. Tem um abandono, não chega o governo, não chega nada, nenhum suporte.
KMF: Outro dia teve o desenho da criança que diz “helicóptero é ruim porque atira na cabeça das pessoas e as pessoas morrem”.
JD: E eles precisam se organizar, é isso.
KMF: Na reunião com os estrangeiros, o inglês fala: “Aqui não tem polícia, né?”. O brasileiro fala: “Não”, mas como uma coisa boa, está tudo certo.
PAS: O que é o Brasil do Sul?
KMF: Ai, ai, ai (risos)… Pois é, isso é outra coisa inacreditável. Acho que nos melhores filmes e livros de distopia, e futuristas, você vê uma coisa e simplesmente a coisa é. O filme não para para explicar o que é. Tem uma cena em 2001: Uma Odisseia no Espaço (1968) que me decepciona sempre que revejo o filme, que eu amo, que é a explicação do uso do banheiro sem gravidade. Porque, poxa, já está tudo certo, e fascinante, é incrível a apresentação da tecnologia no filme. Então o Brasil do Sul, para mim, é muito mais significativo você ver e entender o que está acontecendo no Brasil hoje do que eu explicar exatamente o que é. Que é, espero que você não use, a separação do Brasil do Nordeste, que é o que a gente sempre via como diante de um cenário distópico.
JD: Na linha do tempo, a gente viu o resultado das eleições. A gente viu que o Nordeste não elegeu o Bolsonaro.
KMF: Tem uma informação espetacular, se você pensar em termos estatísticos e geográficos.
JD: E aquele argumento de que “ah, não, é porque eles são ignorantes viciados em esmola” caiu por terra. Agora a gente teve a notícia da Olimpíada de História, a região que mais ganhou medalhas foi a do Nordeste. A gente estava sempre pensando em elementos visuais que trouxessem esse clima de insegurança, de algo estranho, pesado e carregado no ar. A partir da coisa da votação, Kleber veio com essa ideia do Brasil do Sul, e do mapa ser recortado e só manter a tirinha do litoral, porque, afinal, as pessoas gostam das praias do Nordeste. Está lá no filme, quem viu viu, quem não viu não viu, é rápido. E agora tem um Consórcio do Nordeste, uma iniciativa de proteção que é parecida com a iniciativa da comunidade. A marca do negócio é a região do Nordeste, é o positivo com o negativo.
KMF: Do ponto de vista do cinema, a gente teve um momento… Quando o nosso designer fez o Brasil do Sul, a permanência na tela do cinema para você ver era muito rápida. Depois ele fez uma que era longa demais, porque parecia que era tipo making a point. Agora não, é tipo uma tela, Brasil do Sul, e aí aparece o Lunga (personagem do ator cearense Silvero Pereira). Isso para mim é bom, porque é tipo “eu vi aquilo, aquilo é o Brasil do Sul, o que significa aquilo?”.
PAS: Ficou na minha cabeça, uns dias depois me peguei pensando “ah, por isso que existe Coreia do Sul e do Norte”? É uma breve referência que explica muita coisa.
JD: É, eu não sei se é a mesma coisa, mas no final é a mesma coisa.
PAS: É o separatismo. Fomentar o ódio entre as pessoas de um país e ele se quebrar.
KMF: Eu não sou das pessoas separatistas.
JD: Pelo amor de Deus!
KMF: Acho o Brasil um país foda que tem que ficar junto. Tem que existir educação e tentar quebrar esse abismo que existe. Não acredito em separatismo. Gaúcho é tão importante quanto pernambucano.
JD: Tem graus, né?, às vezes você se pega tendo um pensamento desse, porque você fica com raiva, de cabeça quente, porra, por que vocês estão fazendo isso? Mas, enfim, volto a lembrar da minha família gaúcha, que não era separatista, mas não falava dos separatistas que lá existem há muitas décadas, organizados. Não falavam desse pessoal como um bando de imbecis. Eu era menino, menino não tem voz na mesa de jantar.
PAS: Sobre a questão de vocês peitarem os norte-americanos como inimigos, metaforicamente, é bem raro ver isso em qualquer área das nossas artes. Por que vocês fizeram?
KMF: É raro, mas… O filme americano tem um registro muito dele, é o cinema americano. E a representação dos personagens estrangeiros no cinema americano tende a ser problemática. Eu lembro muito do filme The Money Pit, Um Dia a Casa Cai (1986), uma produção do Steven Spielberg que vi quando era adolescente, nos anos 1980. O filme começa estranhamente na praia de Copacabana, um ritual de candomblé. Aí a mãe de santo está falando em espanhol no filme. Eu era brasileiro, morava na Inglaterra. Como? Por que ela está falando espanhol? O amigo inglês: “Ela está falando espanhol?”. Está. “Mas não é espanhol que fala no Brasil?” Não. Não mesmo.
JD: Acho que aquele com Sonia Braga também, Luar sobre Parador (1988). Alimenta.
PAS: Se pensar na Carmen Miranda…
KMF: É, alimenta. Tudo bem, mas… Eu vejo com certo fascínio a utilização de personagens americanos. Os Estados Unidos têm uma presença muito forte no mundo, né? A gente discutia muito durante o roteiro a Guerra do Vietnã. A gente pensava numa microversão da Guerra do Vietnã. Não tem só americanos no filme. Tem o Udo, que é alemão.
PAS: Mas ele tem uma frase maravilhosa.
JD: “I’m more american than you are.”
PAF: “Sou americano há mais tempo do que você.”
KMF: Os Estados Unidos, não sei se você conhece tão bem, são o único país do mundo onde qualquer estrangeiro se diz “I’m an american”, mesmo com sotaque superforte. Você não vê um húngaro falando isso na França, “je suis francês”. Ele é húngaro. Você não vê um americano na França dizendo que é francês.
JD: Isso é mais um dos frutos do império, né? É o império.
KMF: É, a coisa do sonho americano, talvez. Já ouvi minha prima que é brasileira e já mora lá há 45 anos dizer que é americana. Tudo isso é fascinante. E os Estados Unidos são uma fonte constante de personagens, de uma presença imagética no cinema.
JD: A gente estava fazendo um western, que é um gênero genuinamente americano, e os westerns clássicos das décadas de 1940 e 1950 colocam os índios como os invasores. E agora a gente está fazendo uma coisa que é: não, vamos corrigir isso, porque a história real é completamente outra.
KMF: Essa inversão sempre nos pareceu interessante. E acho que o resultado que a gente tem tido, até internacionalmente e de muitos americanos, é bem menos explosiva do que eu talvez pudesse achar que seria.
PAS: Explosiva em que sentido?
KMF: Ah, de as pessoas dizendo que o filme é antiamericano. Não, são personagens…
PAS: Ninguém disse isso ainda?
KMF: Talvez uma pessoa…
JD: Uma ou outra pessoa tenta, mas não cola.
KMF: Mas, por exemplo, o New York Times e o Los Angeles Times adoraram o filme. Várias críticas lindas, isso não é uma questão que tem aparecido.
JD: Porque não cola, é uma história que pode ser entre vizinhos, em qualquer lugar.
KMF: Estados Unidos é uma sociedade extremamente complexa que não pode ser resumida por seis personagens de um filme.
PAS: Mas eu volto à questão do timing, é muito importante ter esse desenho. É o que o Trump está fazendo com a gente, anexando o Brasil.
KMF: É, mas isso não foi planejado.
JD: É pior. Ele não está anexando, está farming. É pior ainda, está colonizando de novo. É cruel. Se fosse anexar, tudo bem, todo mundo ia virar americano e ia ter o mesmo direito.
KMF: O que vem para o filme, que eu acho extremamente perturbador como elemento que foi trabalhado pela gente no filme, é a nossa reação, a reação do mundo na verdade, à questão dos mass shootings. Isso é muito impressionante, e está no filme, e está no filme de uma maneira muito perturbadora. Você tem o personagem que parece ter um tipo de bússola moral em relação à morte de uma criança, mas depois ele revela que não estava bem por causa de uma separação e pensou em assassinar a esposa. Ele se sente livre o suficiente para falar isso. Depois ele se viu rondando shoppings. Acho isso bem perturbador no filme, ainda me perturba. Acho ótimo, mas acho perturbador. A gente está falando de natureza humana. Essa natureza humana se expressa na sociedade americana. Acho válido, acho que é justo.
PAS: Somando a isso, a hiperviolência é uma coisa muito norte-americana que vocês pegam e reapropriam, invertem. Mas ao mesmo tempo estão usando ela.
KMD: É, mas o Paul Verhoeven, que é um dos nossos diretores preferidos, é um diretor que pegou a ultraviolência e a transformou num tipo de pesadelo catártico. Existe a catarse-catarse e existe o pesadelo catártico. Você está tendo um pesadelo, mas é foda esse pesadelo. A gente queria um pouco isso. O filme meio que dá corda narrativamente, dá corda, vai dando corda, vai dando corda, até que tem um momento na cabana que tem uma explosão e aquele momento se transforma num pesadelo catártico. E a reação popular nos cinemas, na sessão oficial em Cannes, na sessão de imprensa em Cannes, em Sidney, na Suíça e aqui no Brasil tem sido muito forte. É uma reação emocional. Você está dentro do pesadelo – eu estou teorizando sobre meu filme, uma coisa que eu não poderia fazer -, você está dentro do pesadelo e há uma explosão. Eu vejo assim.
PAS: Como tem sido a reação nesse momento?
KMF: Catártica. Acho que isso é válido.
JD: Eu não acho que o filme tenha prazer na violência. Não mesmo. Na verdade é tudo muito triste. No final do filme, as caras de dor dos habitantes daquela comunidade… É trágico, é triste, ninguém aqui está se divertindo em cortar cabeças. Tem muita raiva envolvida, sim, mas raiva é…
KMF: A coisa da reação com o bacamarte, a primeira coisa que eles falam para a garota (estrangeira) que está machucada é “por que vocês estão fazendo isso?”. Talvez num outro filme os caras viriam com enxada e acabariam com ela. Não seria o meu filme e nem o do Juliano. E no final, também, um outro filme que alguém poderia ter feito era uma grande festa em Bacurau com um porco rodando no fogo, todo mundo enchendo a cara. Nunca, jamais faria esse filme. Acho que o final termina funcionando – falo isso porque a gente está acompanhando há um tempo já – de uma maneira muito estranha, que é uma combinação de vários elementos: luto, alívio, justiça, tragédia e uma grande merda, tudo junto. Isso explica talvez o efeito que o filme está tendo nas pessoas. A violência não é confortável, ela é lamentável.
PAS: Outra questão de timing é a das armas, hoje uma das discussões mais fortes no Brasil. Estão liberando geral. Sempre me perguntei sobre Hollywood e tenho chance de perguntar para vocês: quando aparecem aquelas armas…
JD: Na cabana?
PAS: Todas as armas que aparecem no filme. Como é, tem patrocínio de indústria bélica?
JD: Patrocínio?? Não, não, não! Existe uma função no cinema que é o armeiro, o cara que tem autorização para manipular armas e desativa essas armas para o uso delas, e transforma elas em armas de efeito. Quando ela se torna arma de efeito ela imediatamente fica inutilizada para violência. E aí usa os festins e tal. Existe a figura do armeiro, o cara que adquire essas armas que nem o cara que tem uma locadora de câmera, lentes.
KMF: Não sei se percebi a pergunta, você está perguntando sobre a presença de armas no filme?
PAS: É o que Juliano falou mesmo. O único incômodo que tenho com o filme é esse, como tenho com Hollywood, que é a maneira como se usa a violência e o sangue o tempo todo em Hollywood.
KMF: Mas em Bacurau as armas estão guardadas no museu. No início do filme, ninguém usa arma. Ninguém anda de arma. E tem um personagem, que é o Pacote (Thomas Aquino), que prefere agora ser chamado de Acácio, que está saindo dessa. Ele é matador.
JD: Ele foi.
KMF: Ele é um pop star da violência, e quer acabar com isso. Quando chega e está passando o filme dele, diz: “Desliga essa merda”. Então ele é um herói relutante, que é construção clássica. Mas as armas da comunidade estão no museu. Elas não são usadas. Só que o museu é um arsenal de história, e a história é violenta. Mas a comunidade não é violenta. É muito tricky isso, mas está no filme. É como eu falei, no final não tem festa e todo mundo enchendo a cara e dando tiro para cima. Não é isso.
JD: Mas como eles se defendem? Se defendem porque conhecem e preservam a história deles. É essa a leitura.
KMF: Os americanos trazem suas armas. Eles têm alguma vibe de usar vintage arms. Não sei de onde veio essa ideia, mas a gente usou. E aí tem a outra que adora Thompson, aquela arma icônica dos anos 1930.
JD: A gente coleciona vinil, adora. É como se fosse uma coisa twisted dessa paixão pela coleção, de ter uma carga histórica. Eles têm essas armas que têm uma história, só que é uma arma. Na verdade a gente ouve música. Mas ela usa arma para matar gente, para caçar coisas, pessoas, sei lá.
PAS: Já que você falou de música, tem lá o Geraldo Vandré, muito marcante. Por que o Vandré?
KMD: Juliano trouxe, e eu disse: “Do caralho”.
JD: Olha só, lá no início de 2001, a gente fundou um cineclube no Centro de Artes e Comunicação, acho que Kleber foi o primeiro convidado da primeira exibição, com Enjaulado (1997). Se não foi o primeiro foi o segundo. E foi nesse dia que a gente trocou uma ideia pela primeira vez. Acho que peguei carona com você. No Cineclube Barravento, que a gente fundou, eu e um pessoal do Centro de Artes. E um dos filmes exibidos foi A Hora e a Vez de Augusto Matraga (1965, de Roberto Santos). Foi uma sessão linda, e essa trilha sonora de Geraldo Vandré foi muito foderosa. Música boa fica, né?, para sempre.
PAS: De algum jeito é música de faroeste mesmo.
JD: Exatamente. A Hora e a Vez de Augusto Matraga é uma referência natural para a gente.
KMF: A música é maravilhosa para um filme, não é só uma decisão porque é o Vandré.
JD: É de onde vem, essa música existe no nosso coração, e lá na frente a gente está montando o filme e precisa aqui de uma música, e começa a lembrar e tentar coisas, experimentar.
KMF: E da mesma maneira que reencontrei Taiguara para Aquarius, em casa, no Apple Music, procurando coisas…
JD: Achou Gal Costa.
KMF: Não achei, reencontrei, e trouxe.
PAS: É uma música de cinema também.
KMF: Aí leva para edição, “caralho, isso é maravilhoso”.
PAS: É de Brasil Ano 2000 (1969), não é isso?
KMF: Brasil Ano 2000, do Walter Lima Jr. É lindo, porque ela encerra o filme dele, e um filme dos anos 2000 inicia com ela.
JD: É uma sensação muito boa quando você está montando um filme, tem uma cena, coloca uma música e essa música simplesmente se assenta, sobe dois degraus de potência. Puta merda. É foda.
KMF: Você sabe na mesma hora que aquilo é perfeito. Da mesma maneira que você sabe na mesma hora que não funciona.
JD: Nos dois momentos foi assustador, tanto do “Não Identificado” quanto do “Réquiem para Matraga”. A gente se arrepiava, dizia “como é que pode?”.
KMF: “Hoje” (1969) também, do Taiguara, no Aquarius, foi foda.
PAS: Aquarius é muito musical, né?
KMF: É.
JD: Essa viagem começou no Som ao Redor com…
KMF: Queen (“Crazy Little Thing Called Love”, de 1980).
JD: Queen, mas Caetano Veloso, foi uma descoberta aleatória.
KMF: “Charles Anjo 45” (1969, de Jorge Ben).
JD: Entrou numa situação que não tem nada a ver com a música, que fala de um bandido, de um herói da periferia, e estão lá os filhos massageando os pés da mãe.
KMF: É muito bom não ter nada a ver. Como o Spandau Ballet (“True”, de 1983) agora no Bacurau, não tem nada a ver.
PAS: E tem tudo a ver.
KMF: The Guardian disse que era o uso mais absurdo de Spandau Ballet na história do cinema (risos).
JD: É isso, é muito bom gostar de música e poder colocar no filme. Você coloca Vandré e tem uma sessão, algum amigo fala: “Caramba, a música do Vandré é o resumo de tudo”. As pessoas vão pescando significados, simbologias. É foda.
PAS: Por que Lia de Itamaracá e Rodger Rogério no elenco?
KMD: Ela é maravilhosa. Ela estava no Recife Frio já, não sei se você já viu.
PAS: Não vi, desculpem.
JD: Você nunca viu esse filme? Você tem que ver, cara.
KMF: É bom, acredite (risos). É um blockbuster de boteco.
JD: Não tem armas (risos).
KMF: A Lia é uma rainha, e está como rainha no filme. Aí entra a questão do misticismo brasileiro. Ela protege a comunidade, aparece no final do filme com um trabalho bem particular de imagem. Ela é incrível. O Rodger, meu Deus, é uma figura.
JD: Foram dois trabalhos bem feitos de casting. A gente tinha a personagem de Carmelita, mas é muito difícil fazer casting de pessoas muito idosas. A gente falou de Ruth de Souza, que inclusive faleceu agora, não ia dar para ela porque já estava muito velhinha. Aí um desses caras fala: Lia de Itamaracá. Claro! A gente já fez um filme com ela! É perfeita, é gigante. Aí acha o fio. Rodger foi a mesma coisa, Carranca é essa espécie de Johnny Cash…
PAS: Ele se chama Sérgio Ricardo? Ou entendi errado?
JD: Não, Sérgio Ricardo é o autor da música “Bichos da Noite” (1967).
PAS: Sim, mas não tem um personagem Sérgio Ricardo?
KMF: Não, o DJ fala: “Agora vou deixar vocês com Sérgio Ricardo…”. Você é a segunda pessoa que acha que Carranca é Sérgio Ricardo.
PAS: Foi o que pensei. Seria superlegal, ele é o cara do Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964).
KMF: E ele fez A Noite do Espantalho, em 1974, em Pernambuco.
PAS: E Lunga é Lula?
JD: Não, não, pelo contrário.
KMF: Nunca, jamais pensei. Você é a primeira pessoa que acha isso.
PAS: (Risos.) Cada maluco vê o filme de um jeito…
JD: Ainda bem.
KMF: Caralho, nunca, não. Lunga foi escrito como personagem trans, aí a gente achou essa pessoa incrível que é Silvero.
JD: Tremenda presença.
KMF: Ele definiu tudo que queria fazer, a gente disse: “Caralho, vamos fazer exatamente como você quer”.
PAS: Por que seria um personagem trans?
JD: Tem tantas razões. Tem representatividade, quebra de expectativa. É interessante colocar na mão de um personagem que poderia, por ser o que é, ser alguém fragilizado. Não, fragilizado uma porra, ele é o rei dessa merda toda, a rainha dessa porra toda.
PAS: Acho que é por isso que pensei no Lula.
JD: É bom, é divertido, refrescante.
KMF: A gente já falou, nada a ver com Lula, mas nunca vi Lula como um personagem violento. Ele é extremamente violento.
PAS: Ele é Lampião também, de alguma maneira.
JD: Você diz Lunga? Sim.
PAS: Mas Lula também, falando simbolicamente. Pensei no primeiro momento, ele lá naquele lugar que parece uma prisão.
KMF: Interessante essa percepção. Você está numa dimensão que não estou, mas é muito interessante. Ele está com fome, está explodindo.
PAS: E ele é o salvador.
KMF: Ele é o salvador. Na verdade a comunidade se salva, mas ele tem o talento para a violência. Pacote, que é o matador violento, quando vê as cabeças cortadas, diz: “Será que não exagerou, não?”.
JD: De cabeça quente.
KMF: E aí Teresa (a atriz mineira Bárbara Colen) diz: “Não, não exagerou, não”.
JD: Quem sabe se daqui a uma semana ela não vai achar que exagerou?
KMF: As pessoas têm se apegado às cabeças cortadas para fazer a correlação com o cangaço, mas… Tudo bem, você pode fazer a relação que quiser, mas na semana passada teve uma rebelião em Belém e foram cortadas 24 cabeças, algumas jogadas por cima do muro, outras viraram bolas de futebol. As coisas não são tão simples, tão cartesianas. O Brasil é muito mais complexo, e violento. E lindo, e maravilhoso. E violento. É por isso que eu, pessoalmente, estou muito feliz com o filme, porque ele tem muita compaixão e também é muito violento. O filme é muito o nosso Brasil para o bem e para o mal, de uma maneira muito honesta. Fizemos o filme com toda a honestidade intelectual e pessoal que a gente tinha para fazer.
JD: E emocional.
KMF: E emocional. Gostou, não gostou. Gostou, maravilha. Segue.
PAS: Preciso perguntar sobre a relação dos artistas com este Brasil que é muito parecido com o que vocês retrataram no filme. Está dose para leão. Tem o processo por causa de O Som ao Redor.
KMF: O que venho fazendo ao longo de 25 anos é muito claro e público e aberto para todo mundo ver. Os filmes são públicos, feitos com dinheiro público, apresentados publicamente no Brasil e fora do Brasil num crescente de exposição, de reconhecimento, prêmios, prestígio, muito prestígio. Tudo isso é muito feito às claras. A única coisa que mudou nesses 20 anos não tem nada a ver comigo. O que mudou foi o país. O país recentemente passou a abandonar o que chamo de caminho da democracia. E justamente aí surgem ataques, não só a artistas de maneira específica, mas também à própria classe. E existem mecanismos de atacar, através de abuso nas mídias sociais, a utilização de ameaças.
A própria ferramenta de incentivo vira uma ameaça, porque quem ataca está sentado em cima de uma pilha de papéis, a própria burocracia é uma forma de atacar o artista, o produtor. É muito triste, com isso que está acontecendo a gente está lidando na Justiça. Não há precedentes na história do incentivo. Não faz o menor sentido, e foi algo feito completamente sem diálogo, inclusive diálogo negado, não teve possibilidade nem de uma conversa no Ministério da Cultura, que foi preparado para ser destruído. Um país da importância do Brasil está sem Ministério da Cultura.
PAS: Isso é perseguição, Kleber?
KMF: Acredito eu, mas todo mundo sabe, de certa forma, que não faz o menor sentido. Todo mundo sabe que não faz o menor sentido, ninguém leva a sério nem por um momento.
PAS: Como é que se reage a isso?
KMF: Trabalhando, botando pra foder, fazendo filmes, fazendo Bacurau, fazendo festivais de cinema onde se promove o diálogo.
JD: Falando a verdade.
KMF: Falando a verdade, que é o que estou falando aqui. Viajando o mundo inteiro. Entendendo que o que me faz dormir bem à noite é que eu não sou o primeiro nem vou ser o último a passar por um processo desse tipo. Se voltar atrás, tem muita gente incrível que teve questões, e quem os atacou ou morreu ou pegou fogo e ninguém lembra deles.
PAS: Está em andamento ainda, não tem nenhum resultado?
KMF: Está. O que foi apresentado para a imprensa é como se fosse uma condenação, mas não é uma condenação. O Ministério da Cultura, a portas fechadas, tomou uma decisão feita por algumas pessoas, uma decisão administrativa de cobrar isso. Mas agora, finalmente, é que foi para a Justiça.
PAS: Está na instância do TCU (Tribunal de Contas da União), é isso?
KMF: É. Essa é uma outra coisa. Não há precedentes, você receber dinheiro para fazer um filme, entregar o filme e eles te cobrarem de volta. É uma pena completamente esdrúxula, uma decisão completamente absurda.
PAS: Pode impactar o futuro, as próximas produções? O que você vislumbra?
KMF: Eu não sei. Nós continuamos trabalhando. Mas espera-se que a gente vai resolver isso.
JD: Não tem base, isso não vai andar.
KMF: Acho que o efeito maior, na verdade, é de tentativa de desmoralizar.
JD: Exatamente, soltaram essa coisa na semana em que estávamos celebrando Cannes.
KMF: Não, na verdade foi durante a filmagem de Bacurau, primeiro divulgaram para membros bem escolhidos da imprensa. Depois, quando o filme é selecionado em Cannes, claro, são ataques muito pontuais para tentar criar algo.
PAS: Quer dizer que o trabalho de vocês ameaça de alguma maneira esse poder que se constituiu recentemente?
KMF: Eu não sabia que eu era tão perigoso. Eu não acho que eu ameaço nada. São só filmes, são só ideias. Mas é claro que, se a gente voltar para a história dos anos 1930 na Alemanha, você entende exatamente como funciona. Algumas pessoas acham que ideias são perigosas. Mas é só um filme. Bacurau é um filme muito brasileiro, vários tipos de brasileiros de várias regiões podem entender e gostar do filme. Essa polarização é tão estúpida, em todos os níveis, é uma pena que isso esteja acontecendo no Brasil. Mas eu estou muito curioso para ver como a cultura hoje no Brasil vai receber Bacurau.
(Leia reportagem sobre Bacurau em CartaCapital.)