Por que traçar um paralelo entre o Recife, o mangue beat e Chico Science, símbolos dos anos 1990, e a São Paulo de dezembro de 2012, a cidade que não para, a cidade que só cresce.
Hora de voltar ao FAROFAFÁ. De agosto a novembro, trabalhei no site da campanha de Fernando Haddad à prefeitura de São Paulo, o pensenovo.tv (http://pensenovotv.com.br/), junto com o Pedro. Além do meu compromisso político e histórico com o Partido dos Trabalhadores (http://www.fpabramo.org.br/tags/tags-1345), a experiência de trabalhar num nó da rede no qual juntava-se o jornalismo e a discussão política sobre políticas públicas para a cidade de São Paulo exigiu uma dedicação tal que não foi possível fazer outra coisa.
Um dos subprodutos desses 80 dias malucos, nos quais percorremos diversos caminhos e estivemos em praças, ruas, becos, vielas em várias partes da cidade, foi o fato ter convivido intensamente com a beleza e a rudeza de São Paulo. Eu e Pedro ficamos verdadeiramente obcecados com um amor doído por esta cidade que, em ambos os casos, é de adoção – sou de Brasília, Pedro, de Maringá.
Então, para marcar a volta ao FAROFAFÁ, escolhi republicar uma espécie de balanço que escrevi em 2009 sobre a “invasão” pernambucana na música dos anos 90. Fui convidada por Mariana Lacerda a participar de um fanzine (versão em pdf http://www.itaucultural.org.br/ocupacao/chico_science/pdf/fanzine.pdf) distribuído na Ocupação Chico Science (http://www.itaucultural.org.br/ocupacao) que ficou em cartaz no Itaú Cultural no verão de 2010.
E, sim, a cidade de origem do mangue beat, Recife, era um dos temas centrais do movimento, urdido por um coletivo de estudantes de jornalismo, de cinema, de ciências sociais pelos bares recifenses, entre festas e tentativas de fazer, digamos, cultura com as próprias mãos. Evidentemente, isso não é privilégio nem de Chico (e Nação Zumbi), nem de Fred Zero Quatro (e Mundo Livre S/A); em várias definições de música popular do século 20, a música produzida na cidade descola-se, de certa forma, conceitualmente da música de origem mais tradicional e folclórica, em geral associada a comunidades rurais.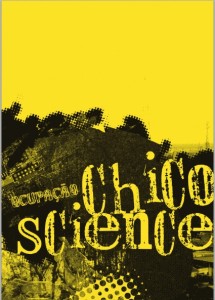
No entanto, havia no mangue um curto-circuito muito particular de conceitos e referências centro-periferia, regional-global, entretenimento-arte que encontrava sua expressão também num encantamento pelos rios, estuários, mangues do Recife e uma, de novo, dolorida consciência de sua condenação à morte ou agonia lenta pela especulação imobiliária, pelo sufocamento da expansão urbana; pelas desigualdades dramáticas entre seus habitantes que acabaram por tornar esse tema um do mais interessantes, pelo menos, no que diz respeito ao cenário musical.
Essa dor e delícia de morar numa cidade horrível e linda é a igual a de viver aqui e agora, São Paulo, dezembro de 2012. Estamos num cidade que extermina sem dó seus pobres e pretos e jovens, cujos “hominhos” cheios de anabolizantes não hesitam em bater num sujeito que estava voltando para casa depois da escola só por que ele é gay, mas também estamos numa cidade com possibilidades incríveis de encontros que podem criar beleza e cheia de gente de todos os tamanhos, gêneros e cores que, apesar de tudo que é pavoroso por aqui, tem uma vontade enorme de que isso aconteça em todos os cantos de seu perímetro urbano.
Então, Pedro, esse texto não era para você. Mas fica sendo, tá?
***
À PROCURA DO EXATO MOMENTO
Não lembro bem da primeira vez em que vi ou ouvi Chico Science. Lá se vão algo entre 15 e 20 anos. É fácil, entretanto, reconstituir com uma certa precisão em que mundo aterrissaram Chico e Nação Zumbi, o mundo livre s/a e Fred Zero Quatro e toda turma pernambucana que veio em seguida. O início dos anos 90 foi estranho. Tínhamos tido eleições diretas em 89, finalmente, mas tínhamos sido derrotados: o eleito era o outro, filho da elite mais atrasada, arrogante, cheirador, provinciano. Em 92, a aposta do centro e da direita contra o PT e Lula, começava a fazer água e já, de novo, voltávamos à rua para pedir o impeachment de Fernando Collor.
No fronte cultural, os anos 90 também representavam uma espécie de contrafluxo. Para minha turma, pelo menos. Na década anterior, tínhamos tentado construir uma síntese entre as diversas forças históricas que nos formaram. De um lado, havia um compromisso (não escrito, é claro, mas profundamente arraigado) de continuar sendo de oposição, do contra, de esquerda. Mas as alternativas formuladas pela cultura brasileira dos anos 60/70, tanto em sua vertente mais nacionalista e de resistência, como em sua vertente mais hedonista, hippie, patinavam numa espécie de autocondescendência estética no mínimo repetitiva, quando não simplesmente patética.
De outro, nossa geração, para o bem e para o mal, era mais internacionalizada do que a anterior, o que significava, nos anos 80, que sentíamos o nacionalismo estreito como uma prisão. Queríamos estar onde a juventude do mundo estava – e um desses lugares eram o rock e a música pop revoltas depois do punk inglês (outro era o cinema de Scorsese, Coppola, Wim Wenders; um terceiro era toda a literatura norte-americana e inglesa que a Brasiliense começava a editar etc.).
Ou seja, queríamos ouvir rock aparentado com o pós-punk inglês (sabíamos que punk, punk mesmo não dava para ser inclusive por uma questão de classe), mais intelectualizado do que aquele pop que já começava a tocar no rádio, mas que, de certa forma, fizesse a crítica da música brasileira e, por fim, que ainda fosse de esquerda.
O projeto parecia complicado, mas os mais habilidosos e corajosos entre nós estavam inspirados e embalados pela palavra de ordem punk, faça-você-mesmo, e, portanto, parecia possível.
E foi, de certa forma. São Paulo fez uma cena underground divertida, criativa, “de oposição” e respeitável. Tentou criar, espelhado na experiência da Factory em Manchester, um circuito alternativo de shows e discos; tomou de assalto a revista de uma grande corporação e fez política como se estivesse num fanzine; provocou um barulho razoável. Éramos, entretanto, muito precários diante da maquina da indústria fonográfica e muito arrogantes diante do público, que preferiria a versão mais salerosa (Paralamas) ou mais teen (Legião Urbana) ou mais quadrada (Titãs) dessa inquietação.
Nos anos 90, todo esse cenário estava sendo desmontado. Várias das bandas tinham dado com os burros n’água quando foram para gravadoras. Outras, tinham cansado da obscuridade. A entrada da MTV ia mudar tudo. E mesmo o eixo criativo do rock e do pop tinha se deslocado da Inglaterra para os Estados Unidos, com a emergência do grunge, anti-intelectual por excelência, e do hip hop, combativo, mas profundamente ligado à questão racial.
Só que aí vieram Chico e Zero, com o manifesto a tiracolo. Ficamos eufóricos. Eles tinham um manifesto de verdade, tinham armado uma cena que não era limitada à música (tinha cinema, moda e cibercultura), falavam em computadores ainda na aurora da internet, faziam pop brasileiro de ares cosmopolitas, tinham uma percussão que, aqui no Sudeste, soava nova e vibrante e, ainda por cima, tinham sido influenciados por aquela mesma cena que, anos atrás, minha turma tinha inventado. Eles eram inteligentes e articulavam muito astutamente sua intervenção na imprensa. Eram de esquerda.
Era como se aquele esforço de síntese de alguns anos antes houvesse dado frutos de uma maneira inesperada e muito, mas muito, melhorada.
E Chico era, digamos assim, o cara que vinha da cena roqueira, pop, que mais tinha condições de transitar com o coronelato da MPB. Apesar de nossa postura crítica em relação à geração dos anos 60/70, tínhamos uma enorme admiração pelo que eles tinham feito – e como gostaríamos que alguém conseguisse atar as pontas entre a tal linha evolutiva proposta pelos tropicalistas e interrompida, de alguma forma, em algum momento dos anos 70, e os novos tempos. A geração paulistana dos anos 80 era de combate e de negação, o mangue beat, uma retomada mais invocada do tropicalismo e Chico, seu homem de frente e capaz de peitar o longo reinado de Caetano & Gil, Chico & Milton na MPB.
O diabo é que Chico foi cedo demais e não deu tempo para tudo isso. Nem sei e nem temos como saber se esse nosso plano para ele batia com os dele. Desconfio que pelo menos parcialmente sim.
Siga o FAROFAFÁ no Twitter
Conheça nossa página no Facebook





